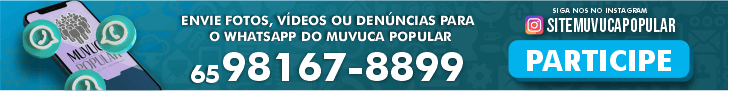É impossível imaginar Winston Churchill isolado num gabinete, o rosto coberto pela máscara negra customizada, comandando a guerra contra um vírus chinês com a imposição de lockdowns e o rebaixamento a inimigo da pátria de qualquer súdito de Sua Majestade que ousasse dar as caras na rua. A hipótese é tão inverossímil quanto enxergar João Doria no cargo de primeiro-ministro britânico ao longo de 1940, liderando com palavras e ações a resistência solitária ao avanço das forças armadas de Adolf Hitler. Churchill foi o maior dos estadistas. Doria é apenas um dos governadores promovidos a tiranetes provincianos pelo Supremo Tribunal Federal, com poderes de sobra para, em parceria com os prefeitos, fazer o diabo no combate à pandemia de covid-19 até que a última esquadrilha de coronavírus voe de volta ao país natal.
O deserto de homens e ideias vislumbrado nos anos 1940 pelo chanceler Oswaldo Aranha restringia-se ao Brasil. A paisagem planetária era bem menos agreste. Em maio de 1941, com a ostensiva entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt, único a vencer quatro eleições presidenciais consecutivas, interrompeu a solidão de Churchill. O mais longevo inquilino da Casa Branca puxou a fila que incluiria líderes nacionais brilhantes, militares audaciosos e diplomatas de fina linhagem. A contemplação do elenco confirma que a vitória dos Aliados foi marcada pela coragem. E ninguém foi mais audaz que Churchill. Depois da retirada de Dunquerque, por exemplo, ele primeiro louvou a épica mobilização que resgatou das praias francesas mais de 300 mil soldados britânicos sitiados pelo Exército nazista. Em seguida, fez a advertência: “Não se ganha uma guerra com retiradas”.
Em agosto de 1940, em meio ao bombardeio de Londres que duraria 40 dias, ele frequentemente ordenou que aviadores da Real Air Force esquecessem por algumas horas a assustadora desvantagem numérica, deixassem os céus escurecidos pela Batalha da Inglaterra e quebrassem a moral do inimigo com ataques aéreos a Berlim e outras grandes cidades alemãs. Se estivesse no lugar de Churchill, uma Margaret Thatcher certamente faria a mesma coisa. Ela foi uma estadista e tanto. Mas o que teria acontecido caso o substituto fosse o atual primeiro-ministro, Boris Johnson? Pelo que fez e anda fazendo no combate à pandemia, essa flor de mediocridade não surpreenderia ninguém se determinasse a todos os britânicos — incluídos os alistados no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, os integrantes do governo e ele próprio — que permanecessem em abrigos subterrâneos até que a guerra acabasse. Com a vitória de Hitler e seu comparsa italiano Benito Mussolini, naturalmente.
Churchill teve de lidar simultaneamente com a maior das guerras até então travada e com conflitos domésticos inevitáveis nas democracias. Para reduzir as colisões entre partidos, montou um ministério de união nacional. Isso não o livrou da feroz bancada oposicionista no Parlamento (que, ao contrário do que ocorreria décadas mais tarde em vários pontos do planeta fustigados pela covid, continuou funcionando normalmente). Entre uma visita ao front e uma viagem aérea de alto risco rumo a outra reunião secreta do alto comando aliado, o primeiro-ministro teve de sobreviver a moções de desconfiança que se seguiam a cada insucesso na guerra — e que não foram poucos. “É preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar-se e ouvir”, aprendeu. Para ele, aliás, a coragem é a maior das qualidade humanas, porque garante as demais.
Os loucos por lockdown
Vista em seu conjunto, a performance dos chefes do combate à pandemia reitera que estadistas são uma espécie aparentemente desaparecida da face da Terra. É perturbador descobrir que o mundo ficou parecido com o Brasil da frase de Oswaldo Aranha. Ainda mais inquietante é constatar que os generais e sargentos que dirigem a guerra contra a pandemia se dividem entre os incapazes, os capazes de tudo e as bestas quadradas que acham possível vencer combates com retiradas sucessivas. A inquietação dos portadores de cérebros sem avarias é ampliada pela transformação do Supremo Tribunal Federal num Poder Moderador que age imoderadamente em favor dos governadores e prefeitos — e invariavelmente contra o chefe do Poder Executivo. Tudo o que faz ou pensa o presidente da República é coisa de genocida negacionista. Todas as bobagens produzidas pelos chefetes regionais ou municipais são elogiáveis, por comprovarem o respeito do bando a um oráculo batizado de ciência.
Faz quase dois anos que esses donatários do Brasil esbanjam aquela espécie de arrogância que mal camufla a pusilanimidade. Uma consulta ao abundante falatório dos loucos por lockdowns prova que a pandemia reformulou as prioridades do repertório vocabular. A discurseira agora é adornada por termos como “precaução”, “prevenção”, “cautela”, “cuidado”, “prudência”, “isolamento” e outras sopas de letras associadas ao medo. A mesma consulta informa que a palavra “coragem” foi expulsa da garganta da turma do “fique em casa”. Virou palavrão, coisa de bordel, conversa de cabaré, indigna de salões frequentados por gente que não dá um passo sem ouvir, pela voz dos condutores da guerra, o que dizem a ciência e a saúde. Se tivesse nascido na primeira metade do século passado numa fazenda do Reino Unido, essa gente se esconderia no celeiro de 1939 a 1945. E continuaria a afastar-se do mundo sempre que avistasse no horizonte algum avião de carreira.
Churchill, Roosevelt, o francês Charles de Gaulle e milhões de jovens anônimos foram à guerra para impedir o assassinato da liberdade. Os tiranetes cevados pela pandemia confiscaram direitos fundamentais a cada avanço do exército brancaleônico. A primeira vítima foi o direito de ir e vir, degolado por quarentenas e fechamentos de estradas. Em março de 2020, os humanos descobriram que já não eram livres para sair de casa quando quisessem, conviver com amigos ou familiares, muito menos ir a lojas, bares e restaurantes. Cinemas e teatros estavam interditados. Crianças haviam perdido a permissão para estudar em salas de aula e todos deveriam cobrir o rosto com máscaras.
A segunda foi a liberdade de expressão, guilhotinada pela submissão de todas as discordâncias à verdade oficial. Deixou de existir qualquer oportunidade para discutir ou debater as decisões das autoridades. O massacre estendeu-se ao direito à vida, suprimido no momento em que os generais decidiram que a economia deveria ficar para depois. E agora ameaça de morte a liberdade religiosa, o livre-arbítrio sobre o próprio corpo e o pátrio poder. Políticos e juízes tratam como bandidos os cidadãos que não se vacinaram e como criminosos hediondos os pais que se recusam a vacinar um filho.
Evandro Pelarin, juiz da Vara da Infância e da Juventude de São José do Rio Preto, por exemplo, resolveu intimidar todos os pais e mães da cidade. “A partir do momento que a Anvisa libera a vacinação de crianças, ela passa a ser obrigatória e os pais que deixarem de imunizar os filhos podem ser multados, processados e até perder a guarda.” Na cabeça do juiz de 44 anos, “a resistência dos pais é um crime, é colocar em risco a saúde alheia”.
A covidocracia
Os britânicos buscavam a vida normal entre um bombardeio e outro. Os brasileiros estão proibidos de acreditar que a pandemia está no fim. Os britânicos ficaram felizes com o fim da guerra. Os governantes destes trêfegos trópicos vibram com o crescimento de uma gripe e lamentam que a nova variante seja tão branda. “Essas proibições são um teatro”, observou o advogado e jornalista americano Michael Fumento. “Por quanto tempo permitiremos que as variantes sejam exploradas para manter uma covidocracia permanente? É hora de acabar. Precisamos dar a essa variante um novo nome de alfabeto grego: Ômega. Que é ‘o último’.”
A advogada e escritora Daria Fedotova, baseada na Ucrânia, afirma que está proliferando “uma espécie de Estado babá, que decide que seus cidadãos travessos não sabem o que é bom para eles e, portanto, precisam ser mantidos longe do perigo”. Embora a Ômicron tenha se mostrado nada letal desde sempre, Israel proibiu a entrada de estrangeiros no país. O Japão e o Marrocos fecharam o espaço aéreo. E cerca de 50 países impuseram restrições a viajantes que estiveram no sul da África.
Na contramão da liberdade individual, a Áustria tornará a vacina obrigatória a partir de fevereiro. Quem recusar a imunização será convocado por um tribunal local. Se ignorar a convocação duas vezes, pagará uma multa calculada em € 3.600. Se insistir na rejeição, será punido com multas que podem arruinar financeiramente o autor da infração. A Alemanha impôs um lockdown aos não vacinados. Cresce o número de países que exigem o passaporte de vacinação para entrar em locais fechados. Na Itália, os não vacinados estão impedidos de trabalhar.
Quem poderia imaginar que esse enredo kafkaniano se tornaria realidade? Em menos de dois anos, a civilização ocidental abriu mão com estarrecedora passividade de direitos fundamentais que levou séculos para conquistar. “Suspeito que muitos valorizam a liberdade menos do que gostamos de pensar”, afirmou o psiquiatra inglês Theodore Dalrymple. “Se a liberdade acarreta um custo, eles estão dispostos a renunciar a ela. Alguns até acham a liberdade desconfortável, especialmente quando traz responsabilidades. Preferem que alguém cuide de seu conforto”.
Derrotado na primeira eleição depois da vitória sobre o nazismo, Churchill reagiu com a naturalidade dos estadistas: “Os eleitores acharam que sou melhor durante a guerra do que em tempos de paz”. Os sacerdotes do autoritarismo à brasileira acreditam que vacina é cabo eleitoral. O primeiro-ministro que venceu a Alemanha é imortal. Daqui a 75 anos, quando alguém lembrar que houve nos anos 20 uma pandemia homicida, os rufiões do coronavírus serão, na mais favorável das hipóteses, nomes de rua. São medíocres demais para descansarem em placas nas esquinas de alguma avenida.
Augusto Nunes