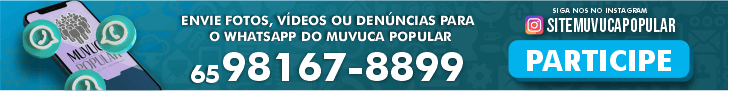Em seu grande livro intitulado Rússia Em 1839, o Marquês de Custine chamou o czar de “águia e inseto”. Ele era uma águia porque voava alto sobre o país que governava, completamente sozinho, observando tudo de relance, mas era um inseto porque não havia nada pequeno ou trivial demais para ele interferir: ele ou seu poder se enterravam em o próprio tecido da sociedade como um cupim se enterra no tecido de uma casa de madeira. Não havia como escapar dele.
Esta é a imagem que tenho em mente da operação dos adeptos da ideologia Woke. Eles têm uma grande visão, pelo menos implicitamente, tanto sobre a natureza da sociedade em que vivem quanto sobre o que deveria substituí-la. Por mais insuficiente, incoerente ou absurda que seja sua visão, ela os atua. Como demonstra a história humana, a insuficiência intelectual não impede a eficácia na busca do poder; na verdade, pode ser uma vantagem na medida em que os pesquisadores mais escrupulosos da verdade e da bondade são divididos pela dúvida.
Por outro lado, nada é pequeno demais para sua atenção. Sendo visionários, eles podem infundir suas menores ações com o significado teórico mais grandioso. Isso lhes dá auto-importância e confiança de que estão fazendo o que antes poderia ser chamado de obra de Deus. A trivialidade é assim reconciliada com a transcendência. Eles fazem parte do movimento da História com H maiúsculo, cujo lado direito eles tanto definem quanto trazem adiante por suas ações.
Claro, a metáfora da águia e do inseto não é perfeita. A águia tem olhos aguçados, enquanto o adepto da ideologia Woke tem catarata. Quando a casa desmorona por causa da ação dos cupins, não é porque eles desejavam tal desenlace: foi, antes, uma consequência natural de sua conduta. A destruição causada pelos adeptos da ideologia Woke é muito mais deliberada.
A noção desses adeptos como cupins culturais veio à minha mente (não pela primeira vez) quando comprei um livro recentemente. Era Conspiracy on Cato Street, de Vic Gatrell.
O professor Gatrell é um bom, talvez até um grande historiador. Sua escrita é magistral e tão agradável de ler quanto qualquer romance. A Cato Street Conspiracy de 1820, na qual um grupo de trabalhadores empobrecidos planejou matar quase todo o gabinete britânico e, assim, iniciar uma revolução, me interessou em parte porque pode ter tido um importante efeito indireto na história da medicina.
Os conspiradores da Cato Street foram executados publicamente por enforcamento e depois decapitados por um homem grande e poderoso com uma máscara preta. Um boato sugeria que esse homem poderia ser o Dr. Thomas Wakley, na época um médico em ascensão. De qualquer forma, a casa de Wakley, onde ele também trabalhava, foi arrombada à noite e incendiada. Wakley foi agredido e gravemente ferido por agressores desconhecidos e escapou por pouco da morte. Arruinado financeiramente, ele decidiu, em sua recuperação, iniciar uma revista médica como forma de ganhar dinheiro e fundou o The Lancet, que logo se tornaria, como tem permanecido desde então, uma das publicações médicas mais influentes do mundo. Não havia fundamento para a crença de que Wakley, um homem grande e poderoso com o conhecimento anatômico necessário para a rápida decapitação de cadáveres, fosse o decapitador dos conspiradores executados, mas muita crença não precisa de fundamento. Essa, de qualquer forma, é uma explicação para o ataque a ele e sua casa, de outra forma inexplicável.
Logo no fascinante livro de Gatrell, notei uma estranheza tipográfica: a descapitalização de títulos como o de Duque de Wellington, Arcebispo de York, Lord Chancellor e Rei George IV, que se tornou duque de Wellington, arcebispo de York, lorde Chancellor e rei George IV etc., todos contra o uso habitual.
Presumivelmente, isso foi de alguma forma uma tentativa de reduzi-los, para expressar falta de respeito, ou mesmo ódio, pela hierarquia social da época: um gesto democrático. Isso, é claro, é profundamente tolo, como se escrever o czar Nicolau I fosse endossar o czarismo, ou escrever o papa Francisco fosse ser um católico fervoroso. Mas vivemos em um mundo de gestos sem custo — sem custo, isto é, para quem os faz.
O professor Gatrell tem 81 anos e, portanto, parece-me improvável que, quaisquer que sejam suas opiniões políticas pessoais, a descapitalização tenha sido instigada por ele. Mais provavelmente, foi ideia de subeditores, que imaginam que, à sua mesmice, por seus ditames tipográficos, estão lutando por justiça e ajudando a criar um mundo mais igualitário. E, posteriormente, um acadêmico me disse que tais imposições são agora uma prática padrão na imprensa – e, de fato, em todas as publicações.
Um amigo meu escreveu um livro sobre um ex-líder africano que geralmente não é muito considerado pelos africanistas. O livro é um relato mais sutil e matizado dele do que o normal, retratando o homem tanto como um idealista genuíno quanto como o tipo de egomaníaco comum entre os líderes políticos. O livro é excelente.
No entanto, seu editor quer que ele coloque em maiúscula a palavra negro, pois se refere a seres humanos. Ele é contra essa demonstração barata (e, ironicamente, racista) de sentimento supostamente virtuoso, mas teve dificuldade em encontrar uma editora, não pela qualidade, mas pela sutileza de seu livro, e, portanto, ficou com um dilema desconfortável: mantendo-se firme e arriscando a não publicação, ou cedendo à demanda e sentindo-se maculado por sua fraqueza e pusilanimidade. Esse, aliás, é o dilema cada vez mais enfrentado pelos candidatos a cargos acadêmicos: aceitar a demanda dos comissários da diversidade, inclusão e equidade, ou renunciar totalmente a esse emprego.
A própria pequenez da escala das atividades da equipe editorial das editoras é o que há de sinistro nelas, pois sugere a meticulosidade com que a marcha pelas instituições foi realizada. Não é de admirar que as tarefas ou deveres mais simples da administração pública na Grã-Bretanha (e sem dúvida em outros países) sejam agora questões de contestação ideológica e, portanto, não sejam realizadas com diligência, deixando a decadência abrir caminho na sociedade.
Theodore Dalrymple é médico psiquiatra e escritor. Aproveitando a experiência de anos de trabalho em países como o Zimbábue e a Tanzânia, bem como na cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde trabalhou como médico em uma prisão, Dalrymple escreve sobre cultura, arte, política, educação e medicina.