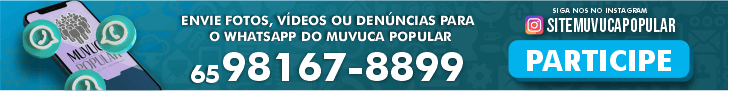Muda o ano no calendário, e nossas mazelas, sempre as mesmas, seguem assustadoramente mais intensas, como gotas que tenham, em pouco tempo, se transformado em uma caudalosa torrente – a tal ponto que nosso espaço possa vir a ser apelidado de Diário da escalada do autoritarismo via despachos, ou Notas sobre a formação da linguagem do império togado. Relatos penosos para todos nós, mas aos quais não podemos virar as costas, sob pena de acabarmos por aderir ao coro midiático uivando, em uníssono, que a “democracia voltou”, talvez a maior das perversões linguísticas às quais sejamos expostos a cada minuto.
Como já temíamos desde a semana passada, a recente barbárie em Brasília continua engrossando o caldo da intolerância e corroborando narrativas por parte daqueles que se vendem como os salvadores da nossa civilização. Pouco depois da divulgação, em mais de um veículo, dos avisos diários da Abin ao ministro Flávio Dino sobre os riscos do que viria a ser consumado no nosso 8 de janeiro[1], o deputado eleito Nikolas Ferreira pleiteou, junto ao STF, o afastamento e a prisão preventiva de Dino, por suposta omissão relevante na prevenção ao ocorrido. Afinal, se o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado a remoção do governador distrital e ordenado o encarceramento do comandante da PM local, em decisões comentadas aqui[2], os pedidos do deputado, em linha com essa jurisprudência de autoria do próprio Moraes, seriam mera extensão da apuração de responsabilidades.
Ocorre que, em mais uma canetada monocrática, o togado se furtou à apreciação do assunto, sob a alegação sumária de uma suposta “ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal[3]”. Se, por um lado, Moraes foi ágil como uma flecha em pontificar uma pretensa responsabilidade das autoridades brasilienses, por outro, foi ainda mais diligente em decretar a inexistência de indícios de omissão de um cacique federal, recusando-se a examinar pelo menos uma dentre as diversas provas trazidas pelo deputado. Mais uma vez, aquele que deveria guardar nossa Lei Maior conseguiu, em um só despacho, estrangular os direitos de petição e de acesso à justiça, ambos amparados na Constituição.
Nesse ínterim, no país onde a preocupação com a criminalidade grossa dos narcotraficantes, milicianos, assaltantes, homicidas e congêneres cedeu lugar, de um dia para o outro, ao pavor diante de “terroristas antidemocráticos”, também o STJ se tornou palco de um curioso litígio envolvendo o fatídico dia 8. Um grupo de deputados do PT, incluindo o filho de José Dirceu, ingressou na corte com uma ação contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, exigindo explicações sobre uma sua afirmação recente no sentido de que “o governo Lula deixou os ataques em Brasília acontecerem para posar de vítima[4].”
Ora, que justificativas poderiam ser cobradas de alguém que não figura como agente policial ou magistrado e que externou uma cogitação na qualidade de cidadão comum? Sua posição de chefe do Executivo de um Estado alheio aos acontecimentos e, portanto, privado de acesso aos dados sensíveis da investigação sequer lhe permitiria tecer um juízo que fosse além de simples hipótese. Se Dino se sentiu injuriado, difamado ou caluniado por Zema, teria cabido ao ministro – e jamais a integrantes da base de seu governo – a prerrogativa exclusiva de propor uma eventual queixa por algum dos crimes contra sua honra[5].
Como pano de fundo de tantos folhetins disfarçados de processos, identifica-se uma neurótica discussão sobre a corrida eleitoral de 22, que ainda parece longe de ser encerrada, e, ainda, sobre a possível construção de um cenário para 26. Não por meio de campanhas políticas, explícitas ou sub-reptícias, e sim graças a instrumentos jurídicos.
A propósito, ainda se acha pendente junto ao TSE, tribunal que deveria ter esgotado sua jurisdição no último dia 30 de outubro, mas continua ativo em um protagonismo anômalo, uma ação proposta, ainda no ano passado, pelo PDT, com vistas à declaração de inelegibilidade de Jair Bolsonaro, por suposto abuso de poder político. O pedido se basearia em declarações do ex-mandatário, ainda na investidura do cargo, prestadas diante de embaixadores, sobre a existência de irregularidades em urnas eletrônicas. Conduta grosseira e inapropriada, como, aliás, é do feitio de Bolsonaro, e que talvez até configurasse eventual crime de responsabilidade para alguém que ainda estivesse à frente do Planalto.
Contudo, uma ação de cunho eleitoral, fundamentada em exercício abusivo de poder, já teria perdido o objeto por ocasião da derrota do então candidato. Não é necessário abrir um livro sequer de Direito para conceber que, se o político em questão foi vencido, as circunstâncias históricas refletidas na vontade popular o impediram de incorrer no tal abuso, ainda que fosse essa sua intenção. Assim, como o universo jurídico não pune desejos, o caso teria de ter sido encerrado, e a página virada.
Ocorre que, na insanidade que parece ter se instalado por aqui, nossos ditos benfeitores vêm sustentando, de mansinho e sempre em prol da democracia, uma pretensa necessidade de responsabilizar criminalmente certas lideranças políticas pelo vandalismo dos primeiros dias do ano. Pura extrapolação das fronteiras entre a esfera jurídica e a politiqueira, pois também é compreensível a qualquer leigo que, no âmbito penal, cada depredador responde pelo dano resultante de sua conduta. Ele, e apenas ele, sem responsabilidade penal para transportadores, políticos e influenciadores de qualquer ordem. Caso contrário, iremos pisotear o princípio constitucional da pessoalidade da pena[6], segundo o qual apenas o sentenciado pode responder pelo crime por ele praticado.
E, pelo visto, iremos mesmo! De fato, contrariando os princípios básicos aludidos acima, o TSE acaba de juntar aos autos do processo movido pelo PDT uma minuta encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que teria sido a prova irrefutável da tentativa de levar a cabo um golpe de estado, e justificativa para a própria prisão de Torres[7]. Como somos o país dos acontecimentos inusitados, incomparáveis àqueles que lemos nos livros de História universal, as mudanças disruptivas em nossa estrutura de poder constituído passaram a ser tentadas por meio de ameaçadoras minutas apócrifas, e não com fuzis, tanques de guerra ou grupamentos disciplinados em rigoroso treinamento militar. Talvez os meios bélicos sejam tediosos e exijam muito mais esforço e preparo do que a nossa natureza macunaímica possa oferecer…
Em meio à insegurança reinante, sequer podemos prever o amanhã. Tudo o que podemos é constatar, com tristeza, a falência das nossas instituições políticas, cujo apodrecimento é legitimado pelas cortes de justiça, e, ainda, a edificação de uma nova linguagem para exprimir tamanha impostura. Linguagem pobre, que abomina sinônimos, pois cada vocábulo deve ter apenas a acepção ditada pelo establishment. Linguagem que censura diversos conceitos e toma por pilares uma ou outra palavra, que ela esvazia em seu sentido original, e à qual atribui outro, completamente oposto. Nesse contexto, “amor” passa a significar “passividade”, enquanto “democracia”, talvez a noção mais estuprada pela nova linguagem, adquire a conotação de “unicidade de uma massa homogênea e sem conflitos”.
O único antídoto para o veneno da corrupção, que se embrenha desde a linguagem até as esferas decisórias do poder, é seguir pensando e falando, sem medo e dentro de uma sistematização lógica. Por isso, caro leitor, convido você a continuar tomando doses de antídotos, na exata proporção de todas as falácias ao nosso redor.
Katia Magalhães é advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e MBA em Direito da Concorrência e do Consumidor pela FGV-RJ, atuante nas áreas de propriedade intelectual e seguros, autora da Atualização do Tomo XVII do “Tratado de Direito Privado” de Pontes de Miranda, e criadora e realizadora do Canal Katia Magalhães Chá com Debate no YouTube.