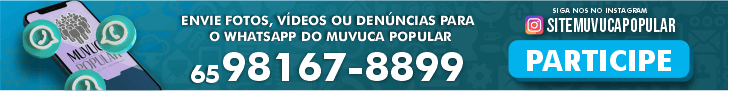Uma das grandes mentiras da modernidade é que o mundo antigo era despótico, totalitário e autoritário, enquanto nós, por outro lado, vivendo no crepúsculo do Iluminismo (o maior termo de propaganda já inventado), estamos livres daquela antiga escuridão e tirania. O registro real da história questiona essa narrativa. A modernidade é testemunha dos “genocídios utópicos” dos últimos 200 anos, começando com o Terror da Revolução Francesa e prosseguindo com horríveis regimes assassinos em massa dos bolcheviques, nazistas, maoístas, Khmer Vermelho, ISIS e outros. Longe de algum brilho de liberdade, vivemos na era do totalitarismo desumanizador. Como passamos do nobre humanismo dos antigos e cristãos à tirania desumanizadora e ao terror dos modernos?
Esta é a pergunta que Waller Newell tenta responder em seu novo livro brilhante e provocativamente perspicaz, Tyranny and Revolution: Rousseau to Heidegger, que foi lançado em setembro passado. Começando com Jean-Jacques Rousseau, passando pelos luminares do idealismo e do romantismo alemães — chegando ao clímax com Hegel — e marchando além de Hegel para Marx, Nietzsche e Heidegger, Newell dá uma leitura da filosofia que deu errado. Horrivelmente errado. Ou realmente deu terrivelmente errado em uma segunda leitura?
À primeira vista, Rousseau e os homens e mulheres inspirados por ele queriam liberdade. Peter Neumann, em sua obra recentemente traduzida Jena 1800, chamou esses homens e mulheres de “espíritos livres”, que buscavam a libertação da alma daquilo que ameaçava escravizá-la. Como observei na conclusão da minha resenha desse livro, “ironicamente, suas ideias muitas vezes acabaram escravizando e tiranizando bilhões a mais, apesar da promessa de libertação e liberdade que desejavam”. A maioria das instituições educacionais e professores ensinam Rousseau, Hegel, Marx, até mesmo Nietzsche, e às vezes Heidegger como desejando uma liberdade negada pelo fraudulento liberalismo burguês. Lembro-me de minha primeira exposição a alguns desses filósofos (como Rousseau) em Advanced Placement European History, como um estudante do ensino médio até minha experiência mais imersiva como um estudante de filosofia, que muitos desses filósofos foram apresentados como campeões da liberdade. Esta ainda é a apresentação defeituosa e enganosa, que obscurece nossa leitura deles.
Newell oferece uma leitura penetrante, próxima e até simpática desses filósofos (especialmente Rousseau). Mas, ao fazer isso, ele também revela o ódio e o veneno no centro de suas crenças. Não era tanta liberdade que esses homens queriam, embora se escondessem atrás da retórica da liberdade. Eles queriam guerra com grupos de pessoas que consideravam corruptores da inocência e da felicidade humanas. Seu apelo por liberdade e libertação era uma expressão velada de seu ódio e desejo de guerra e vingança.
Rousseau, “o padrinho intelectual da Revolução Francesa”, deu ao mundo a “visão repugnante” do homem “burguês” que é totalmente egocêntrico, egoísta e sentimentalmente apático ou, francamente, cruel. Hoje, essa retórica já é lugar-comum. Na época de Rousseau, não. A incubação de ódio de Rousseau contra o profissional urbano de mentalidade comercial foi então levada adiante por filósofos subsequentes, nenhum deles mais famoso do que Karl Marx. Mais sobre ele daqui a pouco.
Enquanto Newell oferece uma leitura simpaticamente brilhante de Rousseau, na qual o contrato social de Rousseau é na verdade mais limitado e benigno do que o leviatã absoluto e totalizante de Hobbes e o totalitarismo de crescimento lento da comunidade parlamentar de Locke, a tese mais notável do filósofo francês (que o homem burguês é culpado de poluir a terra e corromper a humanidade de uma felicidade original) foi sua contribuição mais sombria para a filosofia moderna. Também provou ser o princípio central de sua filosofia que ganhou força póstuma entre a classe intelectual embriagada. Alguém era culpado pelos muitos males da sociedade. E um grupo, o “burguês” da imaginação de Rousseau, era esse. Assim, o burguês tornou-se o bode expiatório, o povo a ser exterminado,
Os revolucionários franceses, especialmente Robespierre, acreditavam genuinamente que seguiam os ensinamentos de Rousseau. Para Newell, isso deveria sempre ter precedência ao lidar com Rousseau, apesar de sua leitura simpática do eminente filósofo francês. Como escreve Newell, “os jacobinos acreditavam que estavam devolvendo o resto da França à condição primitiva da Idade de Ouro do estado de natureza, incoerentemente misturado com uma república coletivista, sem desigualdade de condição, uma comunidade dos virtuosos e puros, em que o indivíduo estaria totalmente submerso”.
Esse espírito de utopismo sanguinário é o que Newell chama de “genocídio utópico”. E está na raiz de toda tirania modernista, independentemente da forma que assuma. O espírito por trás desse desejo sombrio e insaciável de catarse tirânica é acreditar que “se a sociedade pode se livrar de suas classes corruptas em um único derramamento de sangue maciço, então todos serão libertados do tormento psicológico de ter que competir por propriedade e status… Nós viveremos juntos em felicidade coletiva e, os inimigos da paz, justiça. E a liberdade – as classes ou raças ofensivas que se interpõem no caminho dessa bem-aventurança coletiva – tendo sido varrida da face da terra, a guerra, a violência, a exploração política e os conflitos competitivos nunca mais surgirão”. As conspirações de hoje de uma cabala de elite destruindo nações e raças inteiras, ou a culpa comum de hoje dos brancos por todo o mal, nos leva à beira de repetir os horríveis genocídios em massa do século passado.
A contribuição de Rousseau para a tirania e genocídio modernos, então, é através da identificação de um único grupo de pessoas para todos os problemas do mundo. Muitos movimentos políticos contemporâneos, mesmo intelectuais e muitos professores universitários, compartilham desse sentimento pútrido. Basta olhar através do Twitter para vê-lo. Afinal, não há nada de novo sob o sol.
Avanço rápido para Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, o maior dos idealistas alemães e indiscutivelmente o filósofo mais influente que já existiu, é o próximo no palco dos tiranos filosóficos (não intencionais) de Newell. Conceituar Hegel como um traidor da liberdade, porém, não é novidade. Isaiah Berlin, há mais de meio século, articulou essa mesma visão de Hegel.
A grande contribuição de Hegel depois de Rousseau foi tomar a crítica rousseauniana de uma modernidade desolada e conferir-lhe a santificação, não olhando para trás, para uma idade de ouro perdida de amor e felicidade que a política reclamaria em nome das massas, mas olhando para o fim da história. Após um longo e árduo banho de sangue de luta, esse progresso conflituoso traria a resolução da tensão entre indivíduo e comunidade, sujeito e objeto, liberdade e dever. Mas essa santificação da modernidade vem à custa de sangue, morte e destruição. Não há liberdade e paz sem destruição e guerra.
A leitura de Newell de Hegel é um corretivo bem-vindo à leitura equivocada de Alexandre Kojève, que enfatiza demais a dialética senhor-escravo e ignora completamente a consciência infeliz que desempenha um papel muito mais importante e essencial em A Fenomenologia do Espírito. Newell também restaura a profundidade teológica e o platonismo implícito de Hegel à frente de nossa compreensão dele como pensador. No entanto, como Newell igualmente observa, não podemos ignorar a filosofia de progresso de Hegel que emana do terror, da violência e da revolução. Não é o debate racional e as reformas parlamentares que trazem maior liberdade e solidariedade aos povos.
A noção de que a história e a palavra se unem ao longo do tempo é a contribuição duradoura de Hegel para a filosofia do progresso, que abre caminho para uma tirania revolucionária involuntária do progressismo histórico. A noção revisada de “devir heracleitano” encontrada em Hegel é através do “banco de abate” das vicissitudes da história. Embora Newell, assim como Rousseau, faça uma leitura muito importante e sensível de Hegel, não podemos ignorar que Hegel, de fato, argumenta que “nada grande pode ser realizado na história sem paixão, interesse próprio e – frequentemente – violência”.
A tentativa de Hegel de redimir a modernidade oferecendo uma síntese do indivíduo e da comunidade, sujeito e objeto, liberdade e dever foi levada adiante por Marx. Marx compartilhava com Rousseau o ódio de uma classe corruptora (a burguesia). Ele também acreditava na realização progressiva da liberdade e da felicidade que a história está desenvolvendo, que ele extraiu de Hegel. Marx combinou os dois com uma torção viciosa de materialismo e luta histórica exigindo o extermínio da classe corruptora se a perfeita liberdade e felicidade da história fossem consumadas. Marx, portanto, pega os piores elementos de Rousseau e Hegel e os torna o aspecto central de sua própria filosofia de materialismo dialético e historicismo.
Um aspecto central da filosofia política de Hegel era a importância dada à comunidade orgânica. O resultado final da história é uma comunidade de felicidade e liberdade, na qual os indivíduos encontram sua realização devida participando da vida enraizada que o Espírito lhes legou. Particular e nacionalista em Hegel, que se torna homogênea e universal em Marx, essa crença em uma comunidade que a História trabalha para trazer liberdade e felicidade é herdada e revisada em Marx e serve de base para a comunidade universal: o proletariado.
O proletariado é conceituado por Marx como um “ser-espécie” que é ao mesmo tempo comunitário e imanente, compartilhando o espírito comunitário e escatológico de Hegel. A manifestação imanente desta comunidade de liberdade e felicidade predestinada é através das vicissitudes da história e da luta e conflito sob o capitalismo, que trará a revolução e a eliminação da classe corruptora (a burguesia) a fim de chegar a esse estado perfeito de existência no fim da história (no fim da revolução). Pertencer a esta comunidade é a grande esperança voltada para o futuro, uma esperança escatológica de liberdade transcendental realizada na terra.
Claro, um dos problemas mais significativos com o marxismo não é apenas que suas muitas previsões não se concretizaram, mas que “o marxismo é notório, especialmente à luz da Revolução Russa, por sua falta de detalhes sobre o tipo de instituições políticas e salvaguardas constitucionais que deveriam ser estabelecido após a revolução”. Todos os estudantes honestos do marxismo sabem que o marxismo é propriamente antiestatista, o que Newell constantemente lembra ao leitor. Ao final da revolução, não há mais Estado porque não há mais classes porque o Estado é uma expressão do poder de classe. Mas a fase de transição entre o capitalismo de estado para o comunismo sem estado é um terreno baldio vazio em Marx, preenchido apenas com algumas vagas menções à ditadura do proletariado e à aprovação da política revolucionária.
Além disso, porque o marxismo identifica o estado burguês e o constitucionalismo liberal como os árbitros da opressão e da exploração, o marxismo necessariamente prospera em uma dialética de oposição ao estado constitucional liberal da modernidade. O marxismo precisa desse mal mítico para existir se quiser prosperar. O marxismo procura enterrar, se podemos tomar emprestado de Khrushchev, o estado liberal e seu aparato constitucional de direitos porque são mentiras fraudulentas da perspectiva marxista.
Assim, como Newell observa corretamente, o lado mais sombrio do marxismo começa a aparecer: “O objetivo do marxismo não é a conquista de um bom estado para remediar os vícios de um estado imperfeito. Seu objetivo é a transcendência de todos os Estados através da transcendência do Estado final, a democracia liberal”. O marxismo sempre foi, antes de tudo, o inimigo do liberalismo e não do fascismo, do tradicionalismo ou da monarquia, que são resquícios atrasados do progresso histórico ainda não realizado (tradicionalismo e monarquia) ou manifestações do ethos burguês liberal (fascismo) que devem ser destruídos. O liberalismo é o inimigo final para o marxismo vencer.
Uma vez que o marxismo é entendido como a autoconsciência messiânica que leva ao extermínio da burguesia e do constitucionalismo liberal, todas as apostas são canceladas, e é fácil ver como o antagonismo de Marx em relação ao liberalismo, ao capitalismo e à democracia burguesa forneceu o espírito para os terrores totalitários de regimes socialistas no século 20, que realizaram seus assassinatos em massa e revoluções contra qualquer um considerado liberal, burguês ou capitalista. Esses tiranos genocidas não eram falsos socialistas, mas estavam genuinamente tentando aplicar a teoria marxista nos lugares onde Marx não deixou nenhum plano para eles seguirem além de algumas declarações vagas sobre a aprovação da política revolucionária.
Qual era, então, o verdadeiro apelo de Marx? Newell escreve: “o núcleo do apelo do marxismo é o anseio pela totalidade, por uma existência que une satisfação pessoal e coletiva”. Desta forma, Marx está sobre os ombros de Rousseau e Hegel, mesmo quando ele igualmente vira ambos de cabeça para baixo. A alienação, emprestada de Rousseau e outros, ao lado da luta cruel do trabalho e da alienação do trabalho sob o capitalismo (uma revisão radical de Hegel), faz com que o proletariado anseie por uma totalidade e felicidade, o que lhes é negado pelo estado liberal-capitalista e seu véu de mentiras sobre direitos, liberdade e a busca da felicidade. Essa nova e verdadeira comunidade imanente do proletariado imaginada pelo marxismo se revoltará e conquistará sua promessa predestinada. Nesta visão, vale tudo para alcançar essa totalidade.
O ataque de Marx à modernidade liberal é então retomado por Nietzsche e Heidegger. Tal como acontece com suas leituras anteriores, Newell oferece uma análise profundamente perspicaz e de mudança de paradigma dos volumosos escritos de Nietzsche. Ao contrário da (má) interpretação popular, embora Nietzsche fosse um crítico severo do platonismo e do cristianismo, Newell mostra como uma leitura cuidadosa dos vastos escritos de Nietzsche se presta a nuances: o cristianismo, especialmente, incorporou uma forma de auto-superação com a preocupação santa com a luta contra o pecado e a própria natureza caída para alcançar uma nova vida. Este foi, de fato, um grande salto psicológico, apesar da “moral escrava” do cristianismo. O erro do cristianismo foi aceitar uma subjetividade superior e autor de valores além do homem – assim, o esforço natural no cristianismo invariavelmente deu lugar à ética da compaixão e do conforto aos doentes e moribundos, o que forneceu as bases para o liberalismo em vez do ascetismo santo. A compaixão liberal, como argumentou Nietzsche, era uma mera e mesquinha secularização da ética cristã sem a metafísica cristã.
A contribuição geral de Nietzsche para o terror e a revolução, no entanto, foi por meio de sua rejeição à modernidade porque ela incorporava uma existência vil e grosseira que estava exterminando o espírito nobre e heróico do homem. Esse espírito foi primeiro nutrido pela religião, mas agora precisava ser substituído pelo homem como o criador de todas as coisas. A rebelião de Nietzsche contra o “nivelamento igualitário” e sua rejeição do “socialismo [como] um sintoma de materialismo básico e degradação espiritual tanto quanto o liberalismo” é parte integrante de sua conceituação de luta contra o mundo moderno.
Assim, a filosofia da luta de Nietzsche, que é a pedra angular da Selbstüberwindung, tornou-se a herança popularizada que ele deu a seus discípulos póstumos. “Não há síntese platônica superior da mente e dos afetos, argumenta Nietzsche, apenas uma luta”, resume Newell. Essa luta contra o corrupto e decadente mundo burguês, o horror esmagador do socialismo comunista e a agora exausta religião cristã (“Deus está morto”) exigiria a ascensão do Super-homem (Übermensch), que surgiria das cinzas da modernidade e traria vida nova à existência humana. O super-homem é o indivíduo heróico que alcançou a auto-superação para trazer nova vida ao moribundo mundo burguês, e o super-homem é, por definição, um guerreiro contra a modernidade burguesa.
Essa luta contra o mundo burguês (Rousseau, Marx e Nietzsche) e a busca por uma comunidade perfeita (Hegel, principalmente, mas também Rousseau e Marx em graus menores) atingiram seu clímax revolucionário final em Heidegger.
Newell revisita Heidegger como um crítico da tirania tecnológica, algo profundamente pertinente nos dias em que vivemos. Os debates contemporâneos de hoje e os comentários rasos e nauseantes sobre “liberdade de expressão” no Twitter, censura e protocolos algorítmicos em plataformas tecnológicas, Bitcoin e criptomoeda, entre outras coisas, são apenas excursões superficiais que não afirmam o óbvio: agora vivemos em um mundo tecno-digital aparentemente irreversível e, de certa forma, nos fundimos com esse mundo diante de nossos olhos e na ponta dos dedos. A questão fundamental neste admirável mundo novo é se nos submetemos à escravização tecnológica ou se a tecnologia ainda pode servir ao Ser e a algum grau de liberdade.
Heidegger, muito antes do advento da Internet global ou dos aplicativos de mídia social escravizantes, estava sintonizado com o perigo espiritual e humanístico que a tecnologia representava. A humanidade pode sobreviver a um apocalipse tecnológico, ou a humanidade será escravizada a um estado catatônico de existência não totalmente diferente do patético Último Homem do aviso profético de Nietzsche? Devemos lembrar, aqui, que a tecnotirania é fundamentalmente uma manifestação do liberalismo burguês em seu novo pragmatismo e que nossa luta contra ela deve ser comunitária para ter algum poder salvífico. Heidegger, profundo como era, ainda está travando a mesma batalha que Rousseau mais de 100 anos depois.
Heidegger, como Newell deixa claro, não acredita em uma rejeição apocalíptica da tecnologia. Como Newell escreve em avaliação do pensamento de Heidegger, nós nos tornaremos “o Pastor do Ser [ou sofreremos] absorção na reserva permanente da tecnologia”. Isso ocorre porque a tecnologia brota da metafísica. No entanto, porque Heidegger representa “o extremo mais extremo na difamação do progresso histórico” e tem uma urgência maior neste estágio da história do que nos anteriores, há uma “resolução violenta para varrer um mundo infectado com a política economicista e gerencial de tempos modernos”. Não é de admirar que Heidegger tenha abraçado o nazismo como uma esperança de libertar o Ocidente de sua escravidão ao tecnoeconomismo anglo-saxão.
Comecei observando que esses filósofos examinados no livro fantástico de Newell são, na verdade, filósofos do ressentimento. Pelo menos Nietzsche o admitiu abertamente, embora não seja tão difícil vê-lo em Rousseau e Marx, quando não se é envenenado por suas ideologias ácidas. A sua liberdade baseia-se no ódio ao outro, seja qual for a forma e a imagem conjurada que assuma: o burguês, o patrão, o capitalista, o materialista parasita, o cristão, o último homem, o moderno tecnocrático. Nesse ódio ao outro, a semente da tirania e da revolução foi cultivada – não como um desejo de liberdade, mas como um desejo de punir aqueles que tiraram algum direito inato, passado ou futuro, de liberdade e felicidade. A retórica que ouvimos na política de hoje deveria nos fazer pensar se aprendemos alguma coisa com o século mais brutal e sangrento da existência humana.
Paul Krause é o editor-chefe do VoegelinView. Ele é o autor de The Odyssey of Love e contribuiu para The College Lecture Today e Making Sense of Diseases and Disasters.