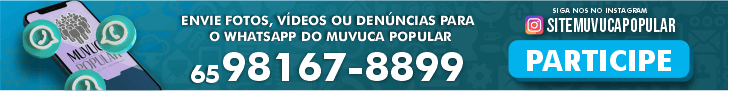A fronteira entre a vida e o terror
As ansiedades de Kafka revelaram-se proféticas
À meia-noite do dia de Natal de 1910, um funcionário jurídico insone do Instituto de Seguro de Acidentes de Trabalho do Reino da Boêmia, em Praga, estava se repreendendo pelo estado de sua escrivaninha. Era, segundo ele, “uma desordem sem regularidade e sem qualquer compatibilidade das coisas desordenadas”. No estilo preciso, onírico e autodilacerante pelo qual se tornaria famoso, catalogou a bagunça, imaginando sua mesa como um teatro lotado; Um compartimento, abarrotado de papéis velhos, botões soltos, lápis quebrados e lâminas de barbear sem brilho, era figurado como uma espécie de varanda onde “companheiros grosseiros… Deixem os pés pendurados no corrimão da varanda, famílias com tantas crianças que se dá apenas um breve olhar sem poder contá-las introduzem aqui a sujeira das creches pobres.” Em suas mãos, o fracasso pessoal tinha a força da parábola social.
Nada de bom – nenhuma escrita séria – poderia ser feito em tal mesa: esse era o ponto de seu autocastigo. No entanto, nesta mesa, e em outras semelhantes (incluindo uma na histórica Alchemists’ Lane de Praga), Franz Kafka criou um corpo de trabalho rivalizado em cartas do século XX apenas com o de Samuel Beckett por vasculhar a pureza da visão e a parcimônia linguística. Poucos leitores que conhecem algo de sua conquista – seja através das histórias e parábolas, das cartas apaixonadas a Milena Jesenská, dos diários de nervos crus, dos aforismos flexionados por Kierkegaard que ele escreveu em Zürau ou dos monumentos quebrados de seus romances fragmentários – não conseguiram detectar o aspecto preternatural de seu dom. Embora pouco de seu trabalho maduro tenha sido publicado em vida, a escrita – e o autocastigo – continuaria quase inabalável até sua morte por tuberculose laríngea em 1924. Entradas do diário erosivo perto do fim (20 de fevereiro de 1922: “Vida imperceptível. Falha perceptível”) registrar o que o esforço lhe custou. Ele apresenta, tanto quanto qualquer escritor secular, uma figura de sofrimento sagrado.
“A fronteira eternamente trêmula entre a vida comum e o terror aparentemente mais real”: este, em suas próprias palavras, é o tema de Kafka. Mesmo quem nunca o leu tem noção do que ele se trata: o homem em casa, nem no mundo, nem em si mesmo, exposto aos olhos do juízo como uma bactéria em um slide. Uma pressão metafísica não redutível a um único ponto de enredo ou virada de frase permeia sua escrita, desde a prosa expressionista inicial até os milagres tardios e solitários de “Josephine, a Cantora” e “A Toca”. Por toda parte encontramos o primado da palavra em risco de cair no silêncio:
“Agora, as sereias têm uma arma ainda mais fatal do que o seu canto, ou seja, o seu silêncio. E embora reconhecidamente tal coisa nunca tenha acontecido, ainda assim é concebível que alguém possa ter escapado de seu canto; mas do seu silêncio certamente nunca.”
Suas angústias, suas parábolas de desumanidade se mostraram proféticas. Como judeu tcheco, ele encontrou o alemão que era sua língua literária irredutivelmente estrangeira, quase uma língua do inimigo – como se tornaria para seus companheiros judeus. O modo característico de Kafka é rico em paradoxos e enigmas, mas não em mistificação. Seus sonhos incômodos, reconhecemos agora, anteciparam Auschwitz.
Kafka nasceu em 3 de julho de 1883, filho mais velho de uma família judia de classe média. Até os 31 anos, ele viveu com seus pais – seu pai era dono de uma loja de produtos secos – e, além de algumas férias significativas, viagens de trabalho e curas de descanso, passou toda a sua vida em Praga. A certa altura, ele sonhava em fugir para Berlim para ser um escritor freelancer – uma aposta familiar a qualquer jovem impecável com ambições literárias que se instala no jornalismo, como dizia Kafka, como “uma forma de ganhar dinheiro que me convém”. Em vez disso, ele pôs em prática os seus impressionantes poderes de raciocínio, ganhando um diploma de direito e servindo como consultor jurídico no instituto de seguros. O trabalho o dividiu em dois. Havia o doutor diurno em direito, preocupado com as condições das fábricas e os acidentes de trabalho; e havia o escritor noturno de ficção visionária. O primeiro grande triunfo desse segundo Kafka veio em 22 de setembro de 1912, quando escreveu “O Juízo” em um único período de oito horas, das 22h às 6h, sentindo “terrível tensão e alegria”. Assim que terminou, entrou no quarto de suas irmãs para ler a história em voz alta.
E assim foi. Sobrecarregado, insone, neurastênico – fazia o trabalho de sua vida em horas fugitivas, quando, consciente de suas imensas habilidades literárias, sentia-se capaz de qualquer coisa. Em outros momentos, afundou-se em desespero suicida. Apesar de ensaiar várias vezes em seu diário o custo para sua escrita, saúde física e sanidade dessa “horrível vida dupla”, ele continuou sendo promovido no escritório, mesmo depois de ser diagnosticado com tuberculose em 1917 e sofrer um surto de gripe espanhola no ano seguinte. “Por que meu nome aparece na primeira página das anotações do inimigo?”, ele se perguntou. “Não sei dizer.” E ele continuou tendo colapsos. Sua vida parece uma parábola de Kafka.
No entanto, é impossível imaginar um Kafka sem o outro. Sua formação em direito, que incluiu uma breve prática no tribunal superior provincial e no tribunal criminal, seu trabalho no instituto de seguros, sua gestão da fábrica de amianto financeiramente problemática de seu cunhado durante a guerra – “fábrica miserável”, ele agarrou – informam os personagens e situações de sua ficção. Assim como termos jurídicos reais são empregados (e distorcidos) em O Processo, passagens inteiras em O Castelo só podem ser chamadas de farsa burocrática. A dança dos arquivos – uma cena prolongada no corredor de uma pousada, onde uma dupla de carregadores distribui documentos de um carrinho para os funcionários que ali residem, que lutam para tomar posse dos arquivos sem mostrar o rosto, enquanto o infeliz protagonista, K. (tendo se intrometido nesse ritual privado), olha com espanto, quebrando assim um dos muitos tabus da sociedade de clausura – é tão bem coreografado quanto qualquer balé. O gosto verbal da sequência sugere o transporte de Kafka ao escrevê-la. A farsa é de um tipo especial, no entanto, deliciosa para o leitor, mas nunca para K., que finalmente é expulso pelo proprietário e sua esposa. “Mas o que ele tinha feito? Repetidamente K. perguntou, mas por muito tempo ele não conseguiu obter uma resposta, porque sua culpa era muito evidente para eles, e então eles nunca nem remotamente consideraram que ele poderia ter agido de boa-fé.”
A culpa em Kafka é sempre evidente; A Justiça é injusta, mas impossível de ser derrubada. O juiz de “Na Colônia Penal” tem um princípio norteador: “A culpa nunca deve ser posta em dúvida”. É a lógica dos julgamentos de espetáculos, dos “inimigos do povo” (processados pelo artigo 58 do código penal soviético), dos piores tipos de animus racial. Após motins antissemitas em novembro de 1920, Kafka escreveu a Jesenská, seu tradutor tcheco, que mais tarde se juntaria à resistência tcheca e morreria em um campo de concentração:
“Tenho passado todas as tardes nas ruas, chafurdando no ódio antissemita. Outro dia ouvi alguém chamar os judeus de “raça maníaca”. Não é natural sair de um lugar onde se é tão odiado? . . . O heroísmo de permanecer é, no entanto, apenas o heroísmo das baratas que não podem ser exterminadas.”
De um autor famoso por uma história sobre um homem transformado em um inseto gigante, a frase “heroísmo das baratas” é reveladora. Gregor Samsa acorda e descobre que ele é um ungeheueres Ungeziefer, retratado muitas vezes como uma espécie de barata ou besouro, mas com o adjetivo conotando algo não apenas enorme ou monstruoso, mas também profundamente perturbador – o inverso de geheuer, “confortável” ou “familiar”. Estes não foram os primeiros motins antissemitas na Praga de Kafka. Frequentemente descobrimos em seus diários um registro preciso de coisas que ele viu, pessoas que encontrou: as características de um rosto, detalhes de vestimenta e deportação. Incidentes discretos se reuniram, a seu ver, em uma sombra iminente. Kafka inventou seus mundos fictícios não apenas por ansiedades interiores, mas também por atos de percepção aguda.
Em sua morte, Kafka tinha apenas uma pequena reputação, como um surrealista menor. Felizmente para a literatura mundial, ele tinha um amigo de peito. Max Brod, como executor literário, poderia ser contado para violar o angustiado pedido de Kafka para queimar, sem ler, todos os seus papéis e manuscritos particulares. Brod não perdeu tempo em colocar seu amigo morto na impressão. Em 1947, o adjetivo “kafkiano” entrou na língua inglesa.
Os mortos, como qualquer antiquário pode dizer, fazem grande alimento. Mas Kafka? Magro, tubérculo, desconfiado, rompedor de três compromissos, autor de três romances inacabados, ele parece pouco promissor. A morte traz mudanças, no entanto, especialmente para o gênio. Em 1946 – um ano antes de “Kafkiano” ser cunhado – Hannah Arendt escreveu ao editor Salman Schocken sobre o valor nutritivo de Kafka: “Embora durante sua vida ele não pudesse ganhar uma vida decente, agora ele manterá gerações de intelectuais empregados e bem alimentados”. O manuscrito de O Castelo ficou protegido por anos em uma abóbada suíça. O manuscrito de The Trial foi leiloado em 1988 por uma quantia recorde pela Sotheby’s. Como Sansão colhendo mel da carcaça do leão, inúmeros estudiosos, críticos, editores e tradutores acharam seu autor surpreendentemente doce.
Agora vem uma nova tradução convincente, por Ross Benjamin, dos diários completos e não expurgados, com 670 páginas (incluindo notas de fim e índice) em uma bela capa dura de Schocken. A leitura dos romances inacabados ao lado dos Diários é esclarecedora: eles revelam o quanto na ficção de Kafka deriva da dor pessoal e o quanto vai além dela, como explicou o crítico George Steiner em ensaio de 1963:
“A visão de pesadelo de Kafka pode muito bem ter derivado de mágoa privada e neurose. Mas isso não diminui sua estranha relevância, a prova que dá da posse do grande artista de antenas que ultrapassam a borda do presente e tornam visível a escuridão. A fantasia virou fato concreto. Membros da família imediata de Kafka pereceram nos fornos a gás. O mundo do judaísmo da Europa Central e Oriental, no qual o gênio de Kafka está tão profundamente em casa, foi espalhado em cinzas.”
Aflito por uma sintonia temerosa com a forma das coisas que virão, Kafka nos apresenta o espetáculo de um homem tentando abrir caminho dentro de sua própria vida. Assim que ele entrar, ele quer sair de novo. Ele teve empatia com personagens secundários em novelas e peças de teatro, que cumprem seus papéis na trama e depois desaparecem. Atormentado pela solidão, achava a sociabilidade difícil, até insuportável. (“Em mim, sem conexão humana, não há mentiras visíveis. O círculo delimitado é puro.”) Quando criança, ele achava os ambulantes bonecados a mais bonita das mulheres. Já adulto, visitava bordéis. “Eu me afasto um pouco dela por me aproximar tanto fisicamente dela”, comentou sobre a mulher com quem ele ficou, em duas ocasiões distintas, noivo. No judaísmo, também, o que o atraía eram em parte as “belas e fortes separações… A gente se vê melhor, se julga melhor.”

Pouco em Kafka permanece constante, mas sempre há essa separação, esse sentido de levar uma vida interior totalmente distinta da de seus semelhantes – que, portanto, não podem ser verdadeiramente chamados de seus semelhantes – juntamente com a esperança de que sua extrema alienação possa conter sua própria antítese; que párias como ele não só sejam acolhidos no seio da família humana, mas que sua natureza pária paradoxalmente não garanta menos. Em uma entrada de diário de 1911, ele fantasia que um casal judeu que ele conhece são “pessoas que, devido ao seu status separado, estão particularmente perto do centro da vida da comunidade”. Com o tempo, Kafka conseguiu seu desejo: um corpus de ficção profundamente pessoal, quase hermético, escrito à margem de um império em declínio, agora ocupa um lugar central nas cartas do século XX. Em sua obra – coincidente com sua vida – a marginalização é um meio de apreender mais claramente o coração das coisas. A distância garante intimidade ou é uma forma de intimidade em si.
“Alguém deve ter caluniado Josef K., pois uma manhã, sem ter feito nada de errado, ele foi preso”. Desde a sentença inicial de O Julgamento, Kafka registra o Estado totalitário como enraizado na falsidade, empenhado em virar vizinho contra vizinho. Registros examinados desde a queda da União Soviética sugerem que um em cada três ou quatro cidadãos da URSS denunciou alguém ao regime. K. é “condenado não apenas na inocência, mas também na ignorância”, pois a acusação específica contra ele nunca é declarada.
Mas, à medida que a narrativa se desenvolve, a terrível implicação se aprofunda. Não é apenas que cada um dos acusados é prima facie culpado (a natureza canguru desse estranho sistema judicial paralelo é suficientemente clara), mas sim que absolutamente todos na sociedade são acusados; todos são sempre potencialmente culpados. Se algumas pessoas andam soltas, é porque as autoridades ainda não conseguiram emitir mandados de prisão. “Mostre-me o homem”, disse Lavrentiy Beria, chefe da polícia secreta de Stalin, “e eu lhe mostrarei o crime”. A verdadeira absolvição neste sistema judicial é coisa de folclore, de mito.
Gradualmente, a desesperança da posição de Josef K. é carregada sobre ele. Mesmo aqueles que parecem se opor ao sistema, ou ser observadores imparciais, são, na verdade, seus apologistas e agentes. Kafka capturou para sempre o pesadelo jurídico da burocracia totalitária, em que o sentido não é tão retido quanto difundido, de forma sublingual, através dos tecidos e no sangue. “A única abordagem adequada é aprender a aceitar as condições existentes”, diz-lhe o advogado de Josef K., desculpando o tribunal. É preciso tomar cuidado “para não despertar a ira da burocracia”. Que burocracia, exatamente? Sem nunca deixar clara sua estrutura labiríntica, Kafka é magistral ao sugerir uma hierarquia judicial sombria, meio competente, envolta em sigilo e terrivelmente poderosa – um tribunal cujas decisões de alto nível nunca são publicadas ou compartilhadas com advogados de defesa – recuando cada vez mais fora do alcance dos réus e seus advogados, em algum empiriano sombrio.
Caluniado. Algumas traduções dizem “contar mentiras”, mas “caluniado” parece mais perto do osso. Em julho de 1914, Kafka foi a Berlim para terminar seu noivado com Felice Bauer. “O tribunal no hotel” é o que ele chamou de confronto com sua noiva, sua irmã Erna, e seus amigos Ernst Weiss e Grete Bloch, com o último dos quais Kafka manteve uma intensa correspondência. (Mais tarde, ela foi assassinada em Auschwitz.) O que a família e os amigos de Bauer devem ter dito sobre ele? A própria ex-noiva, em um passeio de carruagem, o deixou, desabafando “coisas bem pensadas, salvas há muito tempo, hostis”. Kafka, atormentado de culpa, pediu aos pais de Bauer que não se lembrassem dele indelicadamente. Ele disse a Bloch em uma carta que, assim como ela o havia julgado naquele dia no Hotel Askanischer Hof, agora era ele quem se sentava em julgamento sobre si mesmo.
O que eleva a algo como clarividência as patologias pessoais de Kafka – pode-se apenas adivinhar como cada reviravolta de sua psique tímida e perturbada seria medicalizada hoje – é que o isolamento torturado registrado em seus diários é justamente o que os sistemas desumanos que ele apreendeu querem: que o indivíduo, despido de ajuda ou companhia externa, finalmente fique nu diante da máquina do Estado, totalmente à sua mercê.
“Uma defesa meticulosa – e qualquer outro tipo seria sem sentido – não implicava simultaneamente a necessidade de se isolar o mais possível de todo o resto? Será que ele sobreviveria a isso? . . .
Enquanto seu julgamento acontecia, enquanto os funcionários do tribunal estavam lá no sótão examinando os documentos do julgamento, ele deveria conduzir negócios bancários? Isso não parecia uma forma de tortura, sancionada pelo tribunal, uma parte do próprio julgamento, acompanhando-o?”
A história do século XX é uma casa de horrores. Ser assombrado em uma casa mal-assombrada não é defeito de caráter. Em Spindelmühle, um resort que Kafka visitou em 1922 para convalescer, e onde ele começou a escrever O Castelo, o hotel escreveu erroneamente seu nome como Josef K. O tempo não diminuiu sua sensação de ser caçado ou condenado. “Devo iluminá-los”, pergunta Kafka ao seu diário, “ou devo deixá-los iluminar-me?” Enfim, a identificação com seu protagonista foi completa.
Politicamente, Kafka nos remete aos primeiros princípios. O que é subjetividade humana? Que posição moral tem o indivíduo possuído de uma vida interior diante da tirania ou da abjeção mecanizada? Admitidos que nossos direitos fundamentais são inalienáveis, que forças buscam nos alienar deles? Com que base protegemos nossa privacidade – nossos sonhos e aspirações, nossas crenças estimadas e esperanças frustradas – da invasão por um Estado que tudo controla?
Kafka, cuja própria subjetividade era instável, não conseguia parar de imaginar mundos – beirando o nosso – onde o indivíduo é derrubado ou aniquilado sem sentido. Uma das partes mais densas de O Castelo é também a mais comovente: a história de Olga sobre os esforços incansáveis dela e de seu pai para expiar uma ofensa dada a um oficial do Castelo.
Por isso, toda a família foi despersonificada. Abandonado por seus clientes e vizinhos, seus negócios arruinados, sua saúde finalmente em frangalhos, o pai de Olga pede incessantemente ao Castelo, mas suas súplicas são rejeitadas:
“O que ele queria? O que lhe tinha acontecido? Pelo que ele queria ser perdoado? Quando, e por quem, um dedo já foi levantado contra ele no Castelo? Ele estava de fato empobrecido, tendo perdido seus clientes e assim por diante, mas isso tinha a ver com a vida cotidiana, com as questões comerciais e com o mercado, e o Castelo deveria cuidar de tudo? Mas, na realidade, cuidava de tudo, mas não podia intervir grosseiramente nos desenvolvimentos por nenhuma outra razão que não fosse servir aos interesses de um indivíduo. O que se poderia perdoá-lo? No máximo, ele estava agora incomodando sem sentido os escritórios, mas era exatamente isso que era tão imperdoável.”
Por trás das portas fechadas do Castelo, distantes da vida da vila que superinvejam, os funcionários são uma classe burocrática que exerce o poder enquanto escapa da responsabilização. Esta é uma sátira pungente do oficialismo austro-húngaro, mas não apenas uma sátira.
Por fim, Olga acerta na ideia de inscrever o irmão nas fileiras dos servos do Castelo. Mas mesmo entrar no serviço do Castelo como um funcionário de baixo escalão – ou um “semi-probationer” de status ainda mais baixo – é um processo árduo, repleto de dificuldades e contradições ocultas. A boa reputação da família é de suma importância; no entanto, às vezes, um candidato de má reputação, por sua pura inidônitude, despertará o interesse dos funcionários. “Mas às vezes isso não ajuda o homem a obter a admissão, mas apenas prolonga infinitamente o processo de admissão, que não é encerrado, mas simplesmente interrompido depois que o homem morre.”
Aqui, como em outros lugares de Kafka, há a sensação de procedimentos legais naturalmente prolongados, mesmo além da morte – uma espécie de angustiante moderno do cadáver. O julgamento termina com a execução de Josef K.: “Parecia que a vergonha era sobreviver a ele”. É a vã esperança de Olga de que as autoridades invisíveis que atribuem culpa possam ser propiciadas; Ela espera entrar nas boas graças de “quem está me observando e minhas ações lá de cima”. No entanto, esses mandarins, apesar de toda a sua atividade frenética e arquivos volumosos, são estranhamente impotentes: “Pois um funcionário individual é capaz de conceder perdão? Na melhor das hipóteses, isso pode ser um assunto para a administração como um todo, mas mesmo ela é incapaz de conceder perdão; só pode julgar”.

Kafka é um virtuoso desses paradoxos e subversões. “Minha cela de prisão, minha fortaleza”, diz uma entrada tardia do diário. Certa vez, um artista pediu que ele posasse nu como modelo para um São Sebastião. Parece simbolicamente adequado, Kafka representando o santo perfurado com flechas – uma figura de fascínio para escritores e artistas do século XX, de T. S. Eliot a Yukio Mishima. Em uma nota de 1914, é sua própria mão que Kafka imagina prendê-lo à parede. Mais tarde, ele cogita a ideia de que o verdadeiro pecado original do homem consiste em ele fazer perpetuamente a acusação de que “o pecado original foi cometido contra ele”.
Durante grande parte do século XX, os americanos puderam absorver Kafka com mais desenvoltura do que seus leitores europeus, para quem as histórias perturbadoras se tornaram realidade. “Do pesadelo literal de A Metamorfose veio o conhecimento de que Ungeziefer (verme) seria a designação de milhões de homens”, escreveu Steiner. Quando a alta civilização alemã caiu na depravação, os americanos ficaram chocados, mas não cúmplices. Relendo os romances agora, a descoberta é o quão oportunos eles são. As visões de Kafka de homens engasgados com a burocracia, de sociedades oprimidas por uma classe administrativa hipertrofiada, têm uma relevância estranha.
Pós-Twitter, é claro que nosso regime atual começou a se assemelhar ao que Guy Davenport chamou de “o tipo de liberalismo orwelliano que é teleologicamente indistinguível do totalitarismo”. Note-se como, no espaço de uma única geração, o ativismo em nome de vários grupos identitários passou de apelos à tolerância, às exigências de aceitação, aos mandatos coercitivos de afirmação. O liberalismo orwelliano em uma sociedade democrática surge não como antípoda óbvio da democracia, mas sob o disfarce da democracia cumprida, como um veículo mais perfeito para a “vontade do povo”. Essa é a lógica pela qual os progressistas hoje se agitam a favor do fim do Colégio Eleitoral ou do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essa também é a justificativa pela qual o FBI sinaliza postagens que deseja que as plataformas de mídia social removam. A supressão pelo Twitter da história do laptop de Hunter Biden, nos dias que antecederam a eleição presidencial de 2020, foi amplamente vista e proclamada por autoridades de inteligência dos EUA como não a interferência eleitoral que manifestamente foi, mas um esforço justo para combater a interferência eleitoral. Freios e contrapesos corroem; Um ethos de liberdade e responsabilidade pessoal é suplantado pela vontade administrativa de poder. O chamado vem de dentro do Schloss.
Certa vez, troquei números de telefone com um estagiário do Escritório de Assuntos de Desarmamento da ONU. Seu cartão de visitas, há muito desatualizado, serviu por anos como marcador de livros em minha antiga edição de bolso dos Diários de Kafka, página 301: é 2 de agosto de 1914 e a Grande Guerra acaba de começar. Freud, quando ouve a notícia, fica quase histérico de prazer. Wittgenstein, de 25 anos, alista-se como soldado de infantaria e acaba por receber duas medalhas de valor; o conhecimento do indizível que ele realizará da terra de ninguém informará o Tractatus Logico-Philosophicus, sua primeira grande obra. Kafka em seu diário é contundente, até blasé, como se essa guerra mais suicida fosse um horror anunciado: “A Alemanha declarou guerra à Rússia. (Na versão de Benjamin, “Natação” é dada como “Escola de natação”, um pouco manchando a piedade do comentário.)
Kafka queria juntar-se ao esforço de guerra e estava apto o suficiente, mas foi dispensado, a pedido de seu empregador. Então ele se sentou fora dela, preocupado com sua “vida interior onírica”, enquanto o novo século explodiu no que o estudioso Hugh Kenner chamou de “a primeira guerra europeia a ser planejada por máquina de escrever”. (O dispositivo de tortura de “Na Colônia Penal”, significativamente, é também uma espécie de máquina de escrever.) Quando Kafka deu testemunho direto da história, o atropelamento foi quase uma premonição. Um show aéreo em Brescia em 1909 (Blériot no alto e Puccini nas arquibancadas) forneceu ao escritor iniciante o tema de sua primeira obra publicada. Pouco mais de dois anos depois, um piloto italiano jogou granadas do cockpit de seu monoplano Blériot XI contra as tropas turcas na Líbia – o primeiro bombardeio aéreo da história.
Às vezes, prefiro os Diários originais, publicados no final dos anos 1940, com traduções baseadas na versão alemã arqueada de Brod. Em muitos aspectos, no entanto, o novo Diários supera o antigo. Não é apenas que Benjamin restaura os nomes anteriormente editados de pessoas ainda vivas na época da publicação original, ou que ele resgata certas passagens que Brod, tentando estabelecer a reputação de seu amigo, achou indecente ou de outra forma desaconselhável. (“Seu membro aparentemente considerável faz uma grande protuberância em suas calças”, observa Kafka sobre um colega passageiro de trem.) De maior interesse é a interpretação mais fiel da prosa idiossincrática do autor. As inscrições são interrompidas abruptamente. Ideias díspares são ligadas apenas por vírgulas, como se fossem colocadas à pressa. Sequências de adjetivos passam sem vírgulas. A gramática, sob o peso da emoção profunda, se dobra. “Sempre que possível, tentei preservar os elementos não polidos do texto, como fragmentos, pontuação fora do padrão, inconsistências, sintaxe distorcida e muitos outros desvios do alemão tradicional”, disse Benjamin ao Asymptote Journal. Seu objetivo: presentear os leitores com uma figura literária “menos santificada”.

A apresentação de um Kafka está de acordo com o espírito de nossa época, que é intolerante com os santos. Mas menos polido, neste caso, não é menos profundo. Brod sabia o que estava protegendo quando, em 14 de março de 1939, com os manuscritos de seu amigo escondidos em uma mochila, ele e sua esposa, Elsa, fugiram de trem noturno – o último trem que cruzaria a fronteira polonesa antes que os nazistas marchassem para Praga – para a beira do Mar Negro. Lá eles reservaram passagem no transatlântico Bessarábia; a caminho de Tel Aviv, pararam em Istambul, Atenas, Creta e Alexandria, como se abrissem caminho para que os escritos de Kafka capturassem a imaginação do mundo. “A pessoa só se desdobra em sua natureza depois da morte”, escreveu.
Morto aos 40 anos, idade que mal esperava atingir, Kafka estava fadado a nos dar a língua, bem como o estado de ânimo, com que pudéssemos nos aproximar de um século de horrores burocráticos e mecanicistas – um século que ainda pode provar, no Ocidente, ser o último século letrado, no sentido da palavra escrita estruturar, como outrora, nossos modos de entendimento. O domínio enfático sobre nós que os atos de eloquência tiveram no passado enfraqueceu consideravelmente. A linguagem não parece mais abranger toda a medida da realidade atual. Muito em nossa imagem do mundo é agora literalmente pictórico; e onde a geração mais jovem abraçou a palavra falada, em vez da literatura, por meio de podcasts e vídeos curtos, muitas vezes é uma espécie de inglês de cachorro que eles falam – impregnados, em uma extremidade do espectro, no jargão da teoria crítica e, na outra, em gírias subletradas. “Um livro”, declarou Kafka, de 20 anos, “deve ser um machado de gelo para quebrar o mar congelado dentro de nós”. Será que nos próximos anos descobriremos que outras ferramentas servem tão bem? As evidências até agora não são animadoras.
Kafka praticou até o fim o que chamou de “estranha, misteriosa, talvez perigosa, talvez salvadora consolação da escrita”. Assim como seu exemplo pode castigar e inspirar, assim também seu corpus pode servir de reduto para montar uma resistência de princípios. Se a cultura humana deve sobreviver por meio da linguagem, se as liberdades individuais duramente conquistadas vencerem o planejamento central, há fios caídos em sua obra que os escritores americanos de hoje seriam sábios em pegar. Ou, como o próprio autor observou: “O oco queimado em nosso entorno pelo trabalho do gênio é um bom lugar para colocar a pequena luz”.
Brian Patrick Eha é jornalista, ensaísta e autor de How Money Got Free.
*Publicado originalmente no City Journal.