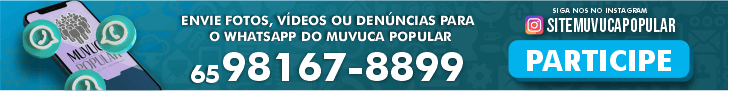Em meio à torrente de matérias destacando a expressão “má-fé” em casos recentes submetidos à apreciação de tribunais superiores, não identifiquei sequer umas parcas linhas dedicadas à investigação sobre o conceito de “boa-fé”, e sobre o que, de fato, poderia caracterizar uma infração a esta. Se, por um lado, a complexidade do assunto rende volumosas obras, por outro, o silêncio absoluto a respeito ou bem deixa o espectador leigo à deriva, frustrado diante da impossibilidade de compreender o teor da notícia em toda a sua extensão, ou então o torna presa fácil da ideologização de fatos meramente jurídicos. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, caro leitor perplexo diante das mais variadas narrativas. Por isso, convido você a perquirir os principais aspectos jurídicos no caso e a debatê-los com temperança, à luz da legislação e bem longe do imaginário “Fla x Flu” politiqueiro, criado para nos lançar a todos em um abismo de atordoamento e desespero.
A espetacularização da última semana girou em torno da representação oferecida ao TSE pelo Partido Liberal (PL) e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, além de recusar-se a examinar a petição por suposta inépcia, ainda condenou a sigla em R$ 22.991.544,60, em decorrência de uma dita “litigância de má-fé”. Tema polêmico, que suscita paixões políticas das mais variadas índoles, e cujo cerne, a saber, a regularidade ou não das urnas, não tenho qualquer pretensão de debater neste espaço, pois não possuo conhecimentos básicos na área de tecnologia da informação.
Como todos sabem, o PL pleiteou à cúpula da justiça eleitoral a invalidação de votos contabilizados no segundo turno da corrida de 22, mediante a alegação, amparada em laudo técnico apresentado à corte, de que as respectivas urnas exibiriam “desconformidades irreparáveis”[1]. Recebida a ação, Moraes, em velocidade incompatível com a proverbial morosidade da nossa rotina judiciária, ordenou que o partido alterasse o pedido, para incluir nele também a contagem de votos do primeiro turno[2]. Ao tomar tal deliberação, o togado determinou que a sigla aditasse sua inicial como condição para sua apreciação pelo tribunal.
No entanto, um magistrado só pode invadir a esfera de liberdade da parte e ordenar tal aditamento nos casos expressamente previstos na legislação, quais sejam: a falta de indicação do juízo encarregado do assunto, dos nomes das partes envolvidas, do fato controverso, do pedido e das provas e documentos indispensáveis ao oferecimento da ação[3]. Como a petição do PL continha todos esses elementos, eis aí o primeiro abuso do togado no litígio, ao exigir do autor bem mais do que a lei lhe permite fazer.
Pouquíssimo tempo depois, diante da deliberação da sigla de manter inalterado o escopo da ação, Moraes indeferiu a inicial, “por advertida e chapada inépcia”[4]. Porém, longe do que pretende fazer crer o togado, também o conceito de inépcia da inicial se prende a um rol taxativo de hipóteses nas quais não se insere a petição da sigla, vez que dotada de pedido certo e determinado, de uma narração de fatos e de sua conclusão, e desprovida de pedidos incompatíveis entre si[5].
Na mente de Moraes, bem alheia ao universo jurídico propriamente dito, um togado pode compelir uma parte que ofereceu o pedido A a pleitear A + B, como se coubesse ao braço julgador do Estado definir o teor do pleito, sob pena de embarreirar o acesso do autor às portas do Judiciário. Nada mais absurdo, até porque uma relação processual é uma relação de direito público, mediante a qual o autor da ação desencadeia um segmento do aparato estatal para que este examine e julgue um certo pleito delineado pelo requerente, ao longo de toda uma sequência de atos designada como processo, cuja ritualística, traçada pela lei, não pode ser “inovada” pelo julgador para a satisfação de seus próprios interesses e caprichos!
Aliás, não param por aí as “novidades” introduzidas pelo togado que, em um despacho onde caberia tão somente o exame formal das condições de admissibilidade da petição (discutidas nos parágrafos acima), atropela o rito e profere monocraticamente, sem sequer ouvir seus pares, um juízo sobre o teor do pedido, asseverando, em caráter peremptório, que “os argumentos da requente, portanto, são absolutamente falsos”. Ora, como pode um juiz, que se presume conhecedor do Direito, mas leigo em todas as outras áreas, afirmar que certas considerações técnicas pertinentes ao ramo de TI são falsas ou verdadeiras, sem a produção de qualquer prova pericial acompanhada pelos assistentes técnicos das partes? O despacho de Moraes em análise não preenche os requisitos de uma decisão judicial, figurando, antes, como um entendimento apriorístico, manifestado em tom bastante passional e, via de consequência, incompatível com o dever de isenção de um julgador, que não pode se dar ao luxo de fazer uma apreciação política da pretensão da parte, apontando, por exemplo, “a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos”.
Como se não bastassem tantas irregularidades, o togado ganhou todas as manchetes de jornais ao impor à sigla uma multa milionária por alegada litigância de má fé. Sem entediar o leitor com páginas em juridiquês, o que devemos guardar em mente é a premissa de que a boa-fé consiste em norma de conduta objetiva imposta a todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo[6], incluindo-se aí o próprio juiz, as partes, peritos, testemunhas e até eventuais terceiros interessados. A vinculação do magistrado ao dever de boa-fé objetiva processual é reflexo da limitação aos poderes estatais, sendo o juiz não só responsável pela condução do processo, como também, e sobretudo, por fazê-lo com lealdade e confiabilidade.
Quanto às partes, que dispõem do direito de amplo acesso à justiça, assegurado pela Constituição Federal, as hipóteses de má-fé no processo também são previstas em um rol taxativo[7], que não admite extrapolação. Assim, não podem elas mobilizar o aparato estatal para a formulação de pedidos contrários à lei, para a alteração comprovada da verdade dos fatos, para a obtenção de fins ilícitos, para a postergação do processo ou para demandas que venham a se mostrar aventuras jurídicas. São os casos da parte que incide em comportamentos contraditórios durante uma ação judicial, como, por exemplo, recorrendo contra decisão que já havia aceitado tacitamente, ou daquela que ingressa em juízo com finalidade que vem a se demonstrar ilícita.
Ocorre que, por óbvio, a má-fé no processo só se evidencia durante a sua tramitação, pois nenhum juiz minimamente sério pode antecipar, a partir de um único ato processual (a apresentação da inicial), se a parte mentiu, e, muito menos, se pretendeu usar o ingresso no tribunal para fins escusos. Se, recordando o ditado popular, é necessário “comer um pacote de sal” ao lado de alguém para conhecê-lo, também na esfera processual é o tempo que desempenha o papel de descortinar o lado sombrio das partes e, em meio a algumas de suas condutas, o de desmascarar suas más intenções.
Desse modo, por mais pitoresca que soe a pretensão do PL, poderia ter, na pior das hipóteses, ensejado um indeferimento com a devida fundamentação, o que, reitere-se, não ocorreu. Porém, jamais uma condenação por litigância de má-fé. Muito menos a fixação de uma multa sobre um suposto valor da causa estipulado unilateralmente pelo magistrado, até porque, em medidas propostas perante a justiça eleitoral, sequer existe valor da causa[8]! E menos ainda é concebível a determinação, por parte de Moraes, do bloqueio dos fundos partidários da sigla para fins de quitação da multa, já que, segundo entendimento recente do STJ, tais verbas são impenhoráveis[9], não podendo ser, então, retidas pelo simples arbítrio de um togado.
O proceder de boa-fé implica uma coerência comportamental, capaz de incutir na mente daqueles com os quais se interage a fidúcia, confiança de que o outro não lançará mão de ardis para nos apunhalar pelas costas. Já a mentira, um “vício maldito” para Montaigne, pois “somente somos homens e nos portamos uns para com os outros mediante a palavra”, essa mentira viciosa a ser combatida desde a infância possui, no que o pensador francês designa como reverso da verdade, “cem mil figuras e um campo indefinido”. Aquele que mente sem pudor, que maquia fatos em cem mil matizes distintos, com narrativas capazes de insuflar os ânimos, este, sim, age de má-fé, lançando mão de todo tipo de distorção linguística para fazer parecer verdadeiro o que é falso, justo o que é injusto. E onde fica a má-fé em todo esse imbróglio que acabamos de debater? Procure a resposta na intimidade do seu travesseiro.
[1] https://www.conjur.com.br/2022-nov-22/pl-anulacao-parte-votos-turno-dar-vitoria-bolsonaro
[2] https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/pl-pede-anulacao-de-urnas-no-2-turno-tse-exige-que-acao-inclua-votacao-total,d9e620d8a164c0ac340dddf40ab22606xmokdcle.html
[3] Artigos 319 a 321 do Novo CPC
[4] https://www.cnnbrasil.com.br/politica/moraes-nega-pedido-do-pl-e-condena-o-partido-a-pagar-multa-de-r-22-milhoes/
[5] Artigo 330, parágrafo 1º do Novo CPC
[6] Artigo 5 do Novo CPC
[7] Artigo 80 do Novo CPC
[8] https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tre-ro/3922317
[9] https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05102021-STJ-veta-penhora-de-verbas-do-Fundo-Eleitoral-para-pagamento-de-dividas-de-partido.aspx
Katia Magalhães é advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e MBA em Direito da Concorrência e do Consumidor pela FGV-RJ, atuante nas áreas de propriedade intelectual e seguros, autora da Atualização do Tomo XVII do “Tratado de Direito Privado” de Pontes de Miranda, e criadora e realizadora do Canal Katia Magalhães Chá com Debate no YouTube.