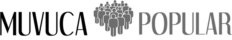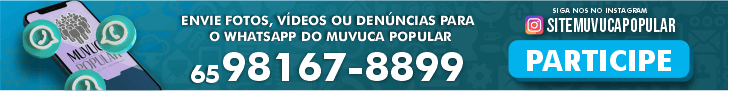Como espero poder trabalhar até o dia da minha morte, talvez não seja a pessoa certa para me alertar sobre os atuais distúrbios na França sobre o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Meu trabalho sempre me agradou e permanece assim. Às vezes até me iludo de que é importante.
Sou forçado a reconhecer, no entanto, que nem todos estão na mesma posição feliz que eu. Tenho certeza de que, se eu tivesse sido um lixeiro toda a minha vida, não esperaria estar esvaziando latas de lixo na minha idade atual (73), muito menos aos 85 anos. Embora meu trabalho continue sendo trabalho, e em certo sentido ocasionalmente até trabalho duro, especialmente quando tenho que pensar, o que faço não é fisicamente exigente. Ninguém jamais teve artrite ou fibrose pulmonar por escrever alguns artigos.
A reforma do sistema previdenciário na França, do meu entendimento limitado, é bastante injusta. É verdade que alguma reforma é necessária: há cada vez menos trabalhadores para financiar as pensões de cada vez mais pensionistas (sendo o sistema totalmente não financiado por investimentos). Por outro lado, são os que fazem os trabalhos mais desagradáveis e pouco remunerados que têm de trabalhar por mais tempo, e a reforma só aumenta essa injustiça. Como diz a velha canção cockney, é o rico que obtém o prazer.
No entanto, a extrema oposição à reforma, que dificilmente é radical, parece estranha à maioria dos estrangeiros. De certa forma, também é triste, pois implica que uma longa aposentadoria é o principal objetivo de tudo o que a precede, o que, por sua vez, implica que todo o trabalho feito por várias décadas antes da aposentadoria foi uma imposição desagradável, e não algo de valor em em si. Que o quid pro quo para uma expectativa de vida mais longa seja um maior número de anos de trabalho parece não atingir ninguém com força.
Os manifestantes provavelmente pensam, sem dúvida com razão, que a reforma é a ponta fina de uma cunha: se for permitido passar sem problemas, haverá mais reformas desse tipo até que a idade de aposentadoria seja 70, 80 ou nunca, dependendo sobre a expectativa de vida. Quanto aos manifestantes mais jovens, eles não parecem se preocupar muito com o fato de serem eles que pagarão para que as pessoas mais velhas do que eles se aposentem mais cedo, pois a perspectiva distante de uma aposentadoria precoce é mais real para eles do que as altas taxas de tributação muito mais próximas.
Como um editorial bem escrito no Le Figaro supôs, grande parte da fúria expressa até agora provavelmente foi mais do que a reforma. O ódio ao presidente na França atingiu um nível perigoso; mas, embora lhe falte charme e tenha sido politicamente desajeitado em sua evidente arrogância (ele disse uma vez que ser presidente o ensinou a amar os franceses, o que nos faz pensar o que ele pensava deles antes), ele não é, pelos padrões históricos mundiais, um monstro. Além disso, ninguém que tenha viajado pela França pensaria que era o inferno na terra, ou que apenas uma pequena proporção da população vivia bem. O problema é que as pessoas fazem comparações não com a forma como as pessoas viveram no passado, ou vivem em outro lugar, ou poderiam viver no futuro, mas com a forma como gostariam de viver agora; e tal comparação com um ideal impossível sempre leva ao desapontamento, senão à amargura.
Parte da raiva na França, no entanto, me parece distintamente ersatz, um pretexto para uma alegre violência e destruição por si só. Quando, em filme, vi as portas da prefeitura de Bordeaux queimando e a (não muito grande) multidão de jovens dançando à luz das chamas, fingindo que havia algum objeto na conflagração além da própria conflagração, não pude deixar de pensar em quão pouco nos separa da barbárie. Não estou aqui falando dos franceses, mas da humanidade.
Há alguns anos, durante uma breve pausa na Guerra Civil da Libéria, visitei Monróvia, a capital, então cercada pelas forças rebeldes. A destruição que vi na cidade foi extensa, mas também seletiva. Recaiu particularmente sobre as manifestações da civilização: os prontuários médicos foram usados como papel higiênico, a biblioteca da universidade foi saqueada e os livros arrancados das estantes e pisoteados, até a última peça da mobília hospitalar do sofisticado hospital-escola foi cuidadosa e laboriosamente desmontada além do reparo; mas o que mais me impressionou foi o Salão do Centenário, o auditório cerimonial onde aconteciam as cerimônias nacionais. Lá, o que provavelmente era o único piano de cauda Steinway no país teve as pernas amputadas e o corpo estendido no chão. As pernas estavam espalhadas e ao redor do corpo do piano havia uma espécie de colar de fezes humanas, não depositadas ao acaso, mas em um círculo cuidadosamente organizado.
Isso já era ruim, mas pior ainda, pelo menos para mim, foi a recusa de alguns jovens jornalistas britânicos em ver algo perturbador ou simbólico nessa cena. Por que eu estava preocupado com o destino de um piano quando, afinal, a guerra civil resultou na morte de talvez um quarto de milhão de pessoas e no deslocamento de metade da população? O fato de não terem passado pela cabeça deles, nem por um momento, que pudesse haver uma conexão entre os dois foi para mim altamente alarmante. Sugeriu que o apego à própria civilização e às suas conquistas entre os jovens ocidentais, que não conheceram nada além de paz e abundância, pode não ser muito forte.
Costuma-se dizer que a civilização é um verniz, assim como a fachada de um edifício. Mas a fachada de um edifício é o que pode fazer a diferença entre uma construção bela e uma hedionda. O culto à autenticidade, ou verdade aos materiais e à estrutura subjacente, que tem sido assiduamente promovido por teóricos da arquitetura moderna tem levado ao pesadelo visual que é a maioria das cidades modernas. A destruição é sempre autêntica, porque apela a uma espécie de alegria que espera pacientemente emergir de cada peito humano, ou pelo menos de muitos deles. Ver e ouvir a alegria, o orgulho daqueles que queimaram as portas da prefeitura de Bordeaux me deu arrepios na espinha. E nunca se console dizendo: “Isso não poderia acontecer aqui”.
Theodore Dalrymple é médico psiquiatra e escritor. Aproveitando a experiência de anos de trabalho em países como o Zimbábue e a Tanzânia, bem como na cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde trabalhou como médico em uma prisão, Dalrymple escreve sobre cultura, arte, política, educação e medicina.