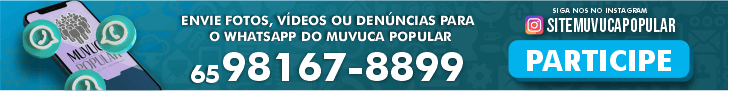BRICS é uma sigla criada em 2001 pelo economista Jim O’Neill, do banco de investimentos Goldman Sachs, no relatório ( pdf ) “Building Better Global Economic BRICs”. O’Neill fez um jogo de palavras com a sigla BRIC, que soa igual à palavra inglesa “tijolo”, mas se refere ao grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia e China.
Em 2001, estas economias juntas já representavam 23 por cento do PIB mundial (de acordo com o critério de paridade de poder de compra), enquanto as economias do G7, grupo formado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos , representava 49 por cento da economia mundial.
Em seu relatório, O’Neill previu que os BRICS iriam crescer. Ele tinha razão: no final de 2022, o PIB combinado dos BRICS (que passou a incluir a África do Sul em 2010) já tinha ultrapassado 31 por cento da economia mundial, enquanto o PIB do G7 tinha caído para 30,7 por cento.
O acrônimo criado por O’Neill capturou a imaginação dos políticos, e os BRICS começaram a se reunir em 2009. A próxima reunião acontecerá na África do Sul de 22 a 24 de agosto – em um mundo que mudou drasticamente desde que o Sr. O’Neill escreveu seu relatório.
Um sinal das mudanças é a ausência de Vladimir Putin. O Sr. Putin não estará na África do Sul por causa de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por supostas atividades russas na guerra na Ucrânia. Xi Jinping, o líder chinês, está presente. No ano passado, Xi foi “reeleito” para um terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês. É a primeira vez que isso acontece desde a morte do ex-líder Mao Zedong.
Mas, no final das contas, o que são os BRICS? É mais fácil definir o que não é: os BRICS não são um bloco alinhado em torno de interesses comuns ou da mesma visão geopolítica. Não é uma união criada por tratado. Não forma um pacto de autodefesa. Talvez a melhor definição dos BRICS seja que se trata de uma ferramenta para a projecção de dois governantes supremos e grupos de poder de dois países membros. O BRICS é uma plataforma, um mecanismo a ser usado pragmaticamente, de acordo com a conveniência situacional.
Os países que compõem o G7 mantêm diferenças importantes entre si: alguns são membros do Conselho de Segurança da ONU – os Estados Unidos, o Reino Unido e a França – outros não (Japão, Itália e Canadá); alguns têm armas nucleares e outros não. E o tamanho de suas economias é bastante desigual (a economia dos Estados Unidos tem 13 vezes o tamanho da economia do Canadá). O G7 também não se baseia num tratado e não tem secretariado permanente. Mas todos os países do grupo são democracias nas quais se considera (em geral) que existe o estado de direito, e que compartilham o mesmo alinhamento geopolítico consolidado após a Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria.
Apesar da febre autoritária politicamente correta que assola o Ocidente – a onda acordada – e do radicalismo de esquerda que contaminou principalmente a política americana e canadense, ainda é possível ver no G7 uma intenção comum de defender o modelo capitalista democrático ocidental.
Isso é muito mais do que se pode dizer sobre os BRICS. Os regimes de dois de seus membros — China e Rússia — não são considerados democracias. A Rússia passou do comunismo para uma autocracia dominada por oligarcas. A China é dominada por uma estrutura de poder ditatorial, nominalmente comunista, que permite a existência controlada de uma economia de mercado totalmente sujeita ao controle estatal.
Os outros três países BRICS – Brasil, Índia e África do Sul – são democracias instáveis e propensas a turbulências. O Brasil vive um período desafiador, marcado pelo uso de instituições estatais para reprimir a liberdade de expressão e por protestos contra a volta ao poder de um grupo político visto por muitos como predatório, rancoroso e radicalmente ideológico.
A China e a Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A Índia quer um assento no Conselho. A China se opõe, enquanto a Rússia apoia a Índia – embora muitos digam que esse apoio é apenas um gesto potencialmente lucrativo, já que a Rússia tem certeza do veto da China.
A única coisa que os países do BRICS parecem ter em comum é o fato de serem potências que não se sentem representadas por instituições internacionais. Se o critério para ser membro do G7, por exemplo, fosse apenas poder econômico, Índia e China deveriam fazer parte dele, ao invés de Canadá e Itália. Outro exemplo é a dificuldade para países como a China ou o Brasil obterem recursos do Banco Mundial, já que não são mais países com baixa renda per capita. O Banco dos BRICS seria uma solução, embora só tenha surgido muito tempo depois da criação do bloco.
A função real do bloco BRICS parece ser, para os países membros e seus governantes, garantir visibilidade internacional e ser um canal de relacionamento. É por isso que os BRICS ganharam nova importância para a Rússia após a invasão da Crimeia e a guerra com a Ucrânia. Os esquerdistas que formam o atual governo brasileiro – e que trabalham para reescrever suas relações exteriores – parecem ver nos BRICS uma chance de recriar o grupo de países não alinhados dos anos 1960. É sua oportunidade de desmembrar a retórica “anti-imperialista” do passado e desviar o foco dos erros econômicos e do desastre político do governo do Partido dos Trabalhadores.
Aí está a explicação para a sugestão de que países como Argentina e Venezuela sejam admitidos no BRICS. Ninguém deve se surpreender se a próxima sugestão for que Cuba e Nicarágua também se juntem. Enquanto isso, a presidência do Banco dos BRICS foi assumida por uma personagem polêmica: Dilma Rousseff – a ex-guerrilheira que foi eleita duas vezes presidente do Brasil e sofreu um impeachment em seu segundo mandato, depois de levar o país à pior recessão desde o início do século XX.
Os BRICS não são, hoje, mais do que um clube que dá aos políticos autoritários a oportunidade de ganhar exposição mediática com agendas de aspecto positivo, que justifica o luxuoso turismo internacional dos ditadores e dos seus burocratas, e que facilita reuniões que de outra forma não aconteceriam – e que nunca deveriam acontecer, em um mundo que realmente valoriza a liberdade, a segurança e a prosperidade.
Roberto Motta é ex-consultor do Banco Mundial e autor best-seller de seis livros no Brasil, onde é analista político.