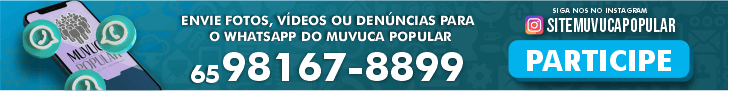Distante de nós em séculos e quilômetros, uma certa tribo habitava um extenso território, repleto de recursos naturais que maravilhavam os demais povos pelo mundo. Afortunada pela natureza, embora atrasada por opções equivocadas de gerações de lideranças, a tribo apresentava estrutura política semelhante à organização da maioria das populações relativamente estáveis e pacíficas. Nela, o comando era exercido por um chefe escolhido por seu povo para gerir as riquezas, recolher tributos e tratar de assuntos externos, e por uns poucos membros eleitos para ocuparem dois órgãos (a casa do povo e o conselho dos anciãos) responsáveis pela feitura das leis. O terceiro braço do poder cabia a onze árbitros supremos, que, não escolhidos pelo povo, eram indicados pelo chefe e confirmados pelos anciãos. As funções daquela elite de julgadores se restringiam, em grossas linhas, a dirimir conflitos diretamente relacionados às normas do consenso fundamental da tribo e a analisar eventuais infrações cometidas pelo chefe e pelos legisladores.
Apesar de ter vivenciado uma alternância de ciclos de maior ou menor prosperidade, todos sob uma constante de má gestão e gasto irresponsável das riquezas tribais, níveis pífios de educação e saúde e corrupção da maioria das lideranças, os membros daquela tribo vinham, desde o encerramento do último regime de força, usufruindo de garantias que conferiam um toque civilizacional àquela população um tanto retrógrada. Portanto, ao longo de décadas, os indivíduos se expressaram como bem entenderam, na certeza de que somente seriam privados do ir e vir pela suspeita da prática de crimes definidos como tais pelas normas da coletividade, mediante processos – tribais, mas, ainda assim, processos – propostos pelos acusadores oficiais perante árbitros comuns, em cujo âmbito os incriminados disporiam do direito à ampla defesa, e até a eventuais recursos junto a árbitros de hierarquia superior. Porém, naquela comunidade, as liberdades estariam com os dias contados…
Após um sopro de moralização, durante o qual dirigentes tribais poderosos, alguns quase totêmicos, haviam sido processados e presos por escancarado desvio de recursos, uma certa composição de árbitros supremos começou a se articular para “virar o jogo”. Por óbvio, em favor dos donos do poder, muitos dos quais haviam nomeado os juízes para aquela invejável posição. E foi assim, contrariando as próprias normas do consenso fundamental da tribo, que os supremos anularam condenações dos chefes, em particular do maior líder da época, que, de tão larápio, havia sido flagrado recebendo vantagens imensas de construtores de obras públicas, seus cúmplices na “arte” de surrupiar os cofres tribais.
Porém, diante do conluio escancarado entre os tais supremos e os líderes por eles beneficiados, vários habitantes começaram a manifestar indignação e a ouvir uns pouquíssimos periodistas corajosos, que bradavam contra fatos omitidos pela massa homogênea de seus colegas. Desse modo, os supremos logo perceberam que, se calassem os “fofoqueiros” de plantão, proibindo-os de divulgar suas notícias ou determinando sua prisão como punição à “perigosíssima” conduta de informar, a multidão enfurecida seria aplacada, mais cedo ou mais tarde.
Nessa toada, abriram, sem provocação dos acusadores tribais, inquéritos desprovidos de objeto ou prazo definido, com o simples propósito de castigar periodistas que, segundo os supremos, disseminassem informações tidas, por eles, como sendo falsas. Como protagonista da implementação de todas essas estratégias repressoras, havia um supremo que se destacava dos demais por seu grau ainda mais elevado de autoritarismo, por um jeito um tanto paranoico de ser, e por enxergar a si próprio como verdadeira encarnação dos valores institucionais mais preciosos para aquela tribo. Não saberia elencar todos os fatores que teriam conduzido ao protagonismo inequívoco da referida figura suprema, pois não sou historiadora, mas simples narradora de fatos sobre um período inusitado experimentado por um determinado povo. Certo é que o tal árbitro se tornou o “maioral”, o censor magno, responsável por chancelar eleições, por defenestrar a seu critério, diversos líderes eleitos e por ditar o que os habitantes da tribo poderiam ou não falar. Não havia poder humano de que não se sentisse investido aquele supremo, talvez o indivíduo mais temido para boa parte daquela população.
Nas “levas” dos censurados e presos, havia um certo periodista, destacado entre os ditos “insurretos” por ter organizado e liderado manifestações que questionavam o arbítrio crescente dos supremos, e os elos entre estes e o grupo político do tal larápio-mor, já de malas prontas para a retomada do poder na tribo. As opiniões do periodista não tardaram a despertar a cólera do censor magno, que o encarcerou por reiteradas vezes, e o tornou, sob a ótica oficial, um dos principais “inimigos” da ordem democrática tribal – a tal ponto que, ciente de inviabilidade de uma vida em sua terra natal, o periodista teve de abandonar sua família e se evadir rumo a uma tribo vizinha, onde pleiteou e recebeu acolhida, por razões políticas.
Não satisfeito em forçar um membro da tribo ao autoexílio, o censor ainda alvejou a família do periodista, em mais uma violação ao preceito, vigente até no meio tribal, de que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Pois ultrapassou, e ainda atingiu uma menor, que, segundo as normas da tribo, sequer poderia ser agente de um crime.
Ora, antes de se evadir, o periodista havia deixado um saco de moedas de posse da filha de 15 anos exatamente para permitir o seu sustento digno durante a ausência do pai, sabe-se lá por quanto tempo. No entanto, aos olhos daquele censor magno, sempre pronto a “inventar” justificativas para medidas cruéis contra quaisquer habitantes por ele tidos como a “escória” a ser varrida da tribo, a jovem não poderia dispor daquele pequeno patrimônio. Segundo o maioral, o saco serviria para armazenar contribuições de “simpatizantes” do periodista e de sua causa “antitribal”, configurando, à luz da verdade suprema, um “escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas”. – e, por “ilícito”, leia-se a propagação de ideias consideradas mentirosas pelos senhores do poder.
Enquanto as outras jovens, suas contemporâneas, se preparavam para os ritos tribais festivos de passagem à vida adulta, aquela moça, além de socialmente estigmatizada como filha de um “inimigo” da tribo, ainda se via privada dos recursos necessários à sua manutenção. Pior ainda, tudo se passava sem qualquer perspectiva de direito à defesa e sem possibilidade de recurso a uma outra instância de poder, pois seu pai, embora jamais tivesse ocupado cargos na liderança tribal, havia sido indevidamente “processado” por um árbitro supremo. Assim, de “excepcionalidade em excepcionalidade”, o censor magno havia tratorado todos os limites éticos e morais, além dos jurídicos, tendo condenado uma jovem inocente à privação do uso dos valores deixados pelo pai. Em português claro, à penúria ou à mendicância de favores perante seu círculo mais próximo.
De acordo com as normas do consenso fundamental da tribo, apenas o conselho dos anciãos podia colocar freios aos excessos dos árbitros supremos, fosse por meio de leis, fosse mediante a remoção daqueles que haviam traído seu dever tribal de guardar os princípios e fundamentos daquela sociedade. Porém, os anciãos, que, na grande maioria, haviam se tornado mais velhos sem terem adquirido uma gota de sabedoria ao longo dos anos, compartilhavam muitas das vilanias dos supremos que deveriam controlar. Diziam até os historiadores daquele período sombrio que os tais julgadores de cúpula tinham plena ciência da prática de surrupio por diversos anciãos, e que, volta e meia, não hesitavam em ameaçá-los com a perspectiva de “desengavetamento” de processos horripilantes, caso os legisladores levassem adiante suas atribuições fiscalizatórias – e assim, em meio aos mais diferentes tipos de pactos espúrios entre os três braços de mando na tribo, a moça confiscada seguia indefesa. Da mesma forma como continuavam inseguros e atemorizados todos os habitantes que se recusassem a louvar criminosos notórios ou mesmo a acatar como legítimo um sistema falido de arbitrariedade e imoralidade institucionalizadas.
Passado? Às vezes, uma realidade tão pavorosa, e tão pavorosamente banalizada, só pode mesmo ser percebida em toda a sua extensão por meio de um conto. Olhe ao seu redor e se recuse a embotar a sua inteligência.
Katia Magalhães é advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e MBA em Direito da Concorrência e do Consumidor pela FGV-RJ, atuante nas áreas de propriedade intelectual e seguros, autora da Atualização do Tomo XVII do “Tratado de Direito Privado” de Pontes de Miranda, e criadora e realizadora do Canal Katia Magalhães Chá com Debate no YouTube.
* Este artigo foi publicado originalmente no Instituto Liberal.