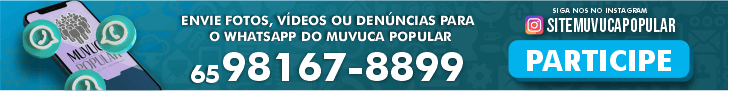Há ocasiões – que parecem ser cada vez mais numerosas – em que não se consegue decidir se é pior se uma pessoa diz algo estúpido por um desejo cínico de parecer generoso, ou se o diz porque acredita realmente no que está a dizer. O cinismo é pior do que a estupidez? Talvez não importe muito, pois o efeito prático pode ser exatamente o mesmo: mas como somos humanos, temos uma tendência natural para nos interrogarmos sobre o que se passa na mente dos outros da nossa espécie.
Um membro do Conselho de Supervisores de São Francisco, Dean Preston, propôs recentemente que as mercearias da cidade que decidissem fechar as suas portas, talvez devido a roubos contínuos das suas prateleiras e a ameaças ao seu pessoal, fossem obrigadas a notificar com seis meses de antecedência a sua intenção de fechar e a tentar encontrar outra loja disposta a substituí-las; além disso, se não cumprissem a sua obrigação, estariam sujeitas a pedidos de indenização por parte dos residentes locais cujas vidas fossem afetadas negativamente pela sua decisão.
Quando li isto, ri-me: pensei que fosse uma sátira. Mas não: a proposta foi feita com toda a seriedade. Hoje em dia, a sátira é política.
A capacidade dos políticos para agarrarem a ponta errada da vara é antiga e provavelmente inerradicável. Na Roma antiga, perante a subida dos preços causada pela escassez, cortaram a moeda, na esperança de que mais moedas resolvessem o problema. Por vezes, parece que não evoluímos muito em relação a essa ideia.
A proposta de responder a um roubo generalizado, obrigando as vítimas a suportar os custos, faz com que o ato de trocar moedas pareça racional e até sofisticado. Isto é que é culpar, ou mesmo criminalizar, a vítima! Às perdas causadas pelo próprio furto juntar-se-ão as dos processos judiciais contra aqueles que decidiram reduzir as suas perdas.
Mesmo nestes tempos peculiares em que (para adaptar ligeiramente as palavras do falecido Allen Ginsberg) vi as melhores mentes da minha geração serem destruídas pela diversidade, equidade e inclusão, penso que 99 em cada 100 pessoas continuariam a pensar que a melhor forma de lidar com o roubo generalizado seria apanhar e punir os ladrões em vez de lhes conceder impunidade e licença para continuar.
Por mais louca que seja a ideia de obrigar as lojas a suportar os roubos em vez de fazer algo para os reduzir, há uma certa lógica distorcida; nomeadamente, que os ladrões não são tanto criminosos como vítimas e que, quando roubam bens, não estão a agir por ganância, desonestidade ou outros motivos desonestos, mas procuram uma compensação por todos os males que sofreram nos últimos 400 anos. O seu roubo é, de fato, terapêutico; é justiça reparadora. Os lojistas são os beneficiários dessa injustiça, exploradores que cobram mais pelas mercadorias que vendem do que as compraram, embolsando aquilo a que os marxistas chamariam sem dúvida a mais-valia.
Esta visão da questão não é muito lisonjeira para os habitantes do bairro que ficariam privados de uma mercearia se a loja atual fechasse devido aos crimes cometidos contra ela, pois sugere que toda a sua população está ao lado dos criminosos ou é ela própria criminosa. Se isto fosse verdade, significaria que o crime e a pobreza eram mais ou menos a mesma coisa: bastaria conhecer o rendimento de uma pessoa para saber que era um ladrão. Passei grande parte da minha vida entre pessoas pobres, tanto as relativamente pobres como as absolutamente pobres, e sei que não é assim. Não esqueçamos que todos somos pobres por comparação com alguém.
Houve uma altura em que a necessidade pura e simples levava as pessoas ao roubo, embora de artigos de primeira necessidade. Dificilmente se poderia culpar um homem esfomeado por roubar comida. Felizmente, não vivemos em tempos de tamanha carência, embora não seja impossível ou inconcebível que voltem a existir.
Aqueles como o Sr. Preston, que culpam qualquer pessoa, exceto o ladrão por seu roubo, estão sempre engajados na busca pelo que gostam de chamar de causa raiz do crime, e até que encontrem esse tesouro enterrado, eles se propõem a não fazer nada que os criminosos possam achar desagradável. Mas a causa principal do crime é fácil de discernir, pelo menos no sentido de descobrir a sua condição necessária: ou seja, a decisão de o cometer. Na jurisprudência ocidental, onde não há mens rea (mente culpada) não há crime. De fato, conheço muitos casos de atos contrários à lei que, no entanto, não eram criminosos porque a pessoa que os cometeu não tinha a mens rea necessária e precisava de tratamento médico e não de punição. Mas esses casos dificilmente explicam os roubos que levam as lojas de São Francisco a fechar as portas.
Aqueles que procuram as causas profundas do crime antes de se fazer qualquer coisa para o suprimir confundem duas coisas: como evitar que as pessoas se tornem criminosas em primeiro lugar e o que fazer quando alguém se torna criminoso. Estas duas coisas se sobrepõem, mas não são exatamente a mesma coisa. A decisão de uma pessoa de cometer um crime pode ser afetada pelo que lhe poderá acontecer depois (em São Francisco, por exemplo, nada), mas é evidente que a taxa de criminalidade numa sociedade é mais do que isso. Em todo o caso, não queremos uma sociedade em que a única razão pela qual as pessoas se abstêm de cometer atos criminosos é o fato de haver um polícia em cada esquina ou atrás de cada árvore.
Na verdade, não vivemos em tal sociedade. A maioria das pessoas evita roubar a casa de seus vizinhos não porque teme ser pega se o fizer, mas porque acha que seria errado roubar; nem acham que seria certo mesmo que seus vizinhos fossem muito mais ricos do que eles. O crime não é a conquista da justiça social em pequena escala: é o crime.
No caso das mercearias de São Francisco que fecham as portas porque o fardo do crime é demasiado pesado para elas, os responsáveis pelos transtornos posteriores aos moradores do bairro são os criminosos, não os donos das lojas, que não têm o dever de se tornarem alvo de criminosos. O fracasso do Sr. Preston (não só dele) em ver isso é uma espécie de tributo às contorções mentais originalmente forjadas em nossas universidades.
Theodore Dalrymple é médico psiquiatra e escritor. Aproveitando a experiência de anos de trabalho em países como o Zimbábue e a Tanzânia, bem como na cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde trabalhou como médico em uma prisão, Dalrymple escreve sobre cultura, arte, política, educação e medicina.
*Publicado originalmente na Epoch Times